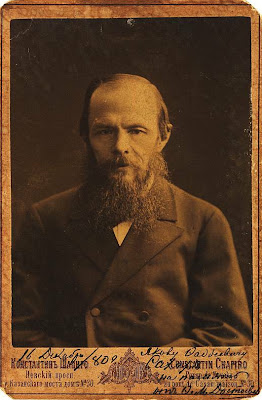Republico estes dois textos meus sobre Em Busca do Tempo Perdido, no blog. Planejo retornar ao ciclo de Proust esse ano, lendo esses sete livros que compõe _cada vez acredito mais_ o maior romance de todos os tempos.
Há um momento em No Caminho de Swann em que Swann, seguindo num passeio junto à família do narrador do romance, debanda-se do grupo para ir apertar a mão do velho sr. Vinteuil, um homem caído em desgraça na sociedade local. É uma das lembranças que fazem parte da infância do narrador; a típica ingenuidade em lenta aproximação de Proust, o seu maravilhoso senso de estranhamento que guarda as verdadeiras revelações para núcleos insuspeitos da narração futura, vê essa inusitada atitude de Swann através de concepções temporais que se bifurcam na admiração infantil pela esporádica presença elegante de Swann nos jantares promovidos por seus pais, e no quase onisciente conhecimento que irá demonstrar ter de um Swann mais complexamente real antes do narrador nascer, período o qual centra toda a longa segunda parte do romance. E o narrador, que de imediato não conhece quem era aquele outro senhor assustado e erradio, que parecia pedir desculpas a Swann por ter sido flagrado transitando por suas terras, fica sabendo que esse sr. Vinteuil era um homem tratado com um cautelosa indiferença pela cidadezinha de Combray, mácula que o narrador percebe na impavidez estampada no rosto de seus pais por Swann tê-los deixado ali afim de tratar com tal sujeito.
O sr. Vinteuil era um fracassado, alguém sob o qual pesava uma condenação de pária já há tanto tempo que a sociedade se fechara de modo decisivo a qualquer chance de reavaliação moral, a ponto de esquecê-lo, e a atitude de Swann_ cuja admiração tornando-se progressivamente consciente e crítica do narrador permitia saber que era um gentleman milionário que sempre transgrediu a etiqueta de postura imposta pela classe social de seus iguais_ despertava as desagradáveis sensações de que esse fantasma resgatado do reino dos mortos, naquele efêmero momento, estava destinado a desaparecer de vez e não incomodá-los mais só quando morresse definitivamente de corpo inteiro. E é isso que ocorre mais tarde no livro: o sr. Vinteuil livra-se de sua sina de deserdado, desnuda-se de sua imensa cara de derrotado, e livra a sociedade de ter-se que às vezes deparar-se com ele, morrendo. Até então nada nos é revelado sobre o sr. Vinteuil, além da cena incógnita em que um reverencioso Swann comete a falta de delicadeza de interromper pessoas respeitadas para ir apertar-lhe a mão e provavelmente aliviar seu constrangimento afirmando que suas terras estariam sempre à disposição para que ele passeasse por elas. No anoitecer em que o sr. Vinteuil é enterrado, o narrador, em sua fase criança, por um jogo aleatório, encontra-se deitado atrás de uma árvore, ao lado da janela da casa do sr. Vinteuil, e vê quando a filha única do finado retorna para casa do cemitério. E aí começamos a saber uma das causas da marca humana do sr. Vinteuil: uma outra moça entra na casa, e segue um diálogo deslumbrante, um desses procedimentos que tornam Proust indispensável_ que se espalham pela prosa transbordante de Proust como inserções do sublime. Tal moça é a amante da filha do sr. Vinteuil; ela pega a foto do finado que está por sobre o console da lareira, cospe nela, e faz a outra_ a filha_ repetir o gesto, que se encerra com as duas se beijando pelo chão. Estavam livres, a amante diz; livres! Não haveria mais o julgamento do sr. Vinteuil sobre a homossexualidade da filha, seu amor excessivo, sua dedicação obsessiva pela filha. Enquanto a amante fala, e a filha teatralmente simula estar acima da tristeza pela perda do pai, o narrador _ já com a onisciência vinda do foco de luz que quase esmagava Proust em seu quarto inviolável em que sondava esse arsenal fictício-memorialista nos anos tardios de sua breve vida_ suprime o senso comum do leitor avisando para que não se repudiasse tão apressadamente a ingratidão da filha; era só dessa forma que ela poderia expressar seu amor pelo pai, a sua verdadeira dor. Era só através da máscara que ela poderia confeccionar o pai genuíno com o qual repartira todos os momentos de felicidade e desapontamento, de excesso de vigilância amorosa e solidão insondável, as brincadeiras dadas ao jeito idiossincrático do pai quando ela era criança, as forças de readaptação à contingência da maturidade que seu assustado pai se submetia enquanto ela necessariamente ia se desapegando de seu quarto de bonecas e se tornava uma adulta. A atitude de cuspir na foto, de transgredir a memória do pai com o coito tão condenado por ele, de irreverência diante sua morte, é a mesma que subjaz não só pela obra de Proust, mas por toda a sua vida. Não sendo espiritualmente um dândi, Proust era assíduo nos salões da alta sociedade, mas sua atitude do esnobe, nas palavras de Benjamin, "não é outra coisa que a contemplação da vida, coerente, organizada e militante, do ponto de vista, quimicamente puro, do consumidor".
A heresia a qual o narrador alerta o leitor para que não caia acriticamente em seu dedo apontado à filha, é o gesto sacramentado mais profundo em que a filha se imuniza do mundo das aparências para poder salvaguardar o seu amor pelo pai_ é sua postura assumida de "consumidora", de partícipe superficial, de reação ativa diante a coreografia que se espera que ela faça com os movimentos simetrizados das danças do esteriótipo social. Nessa conivência externa, na verdade, se expressa a mais pura indiferença às banalidades do cotidiano, pois nela se firma a sua falta de fé na revolta contra a "vida que se exibe", sendo que tudo que realmente importa e tem valor torna a ser a existência das memórias paternas. A exuberância exaustiva do exterior, na qual ela tem que se manter atenta, se esvai em sua rendição à riqueza que se conserva de sua vida com o pai. É como se nesse momento ela ganhasse o direito de envelhecer, que é o que de mais elevado resta a se cumprir com dignidade no destino de pessoas aprisionadas ao ciclo vazio das emulações da rotina. E aqui encontramos a interpretação de Walter Benjamin sobre o procedimento de Proust, de que este não se ampara na reflexão,"e sim na consciência. Proust está convencido da verdade de que não temos tempo de viver os verdadeiros dramas da existência que nos é destinada. É isso que nos faz envelhecer, e nada mais. As rugas e dobras do rosto são as inscrições deixadas pelas grandes paixões, pelos vícios, pelas intuições que nos falaram, sem que nada percebêssemos, porque nós, os proprietários, não estávamos em casa."