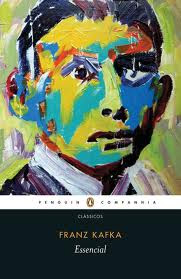Eu sou um ser humano muito melhor quando submetido a ambientes frios. Há mesmo algo de substancialmente irracional em mim quando me deparo admitindo em silêncio as velhas teorias etnocêntricas de que a biologia funciona com maior plenitude em regiões de climas amenos. Por uma semana voltei a sentir a felicidade nietzscheana do frio. Sentado à varanda da casa, observando mais abaixo a linha de praia vazia, livre de turistas que não dividem a excêntrica excitação das baixas temperaturas desse intermezzo de estação, pude reavaliar com uma reiterada completude mental minha situação de vida. Felicidade, harmonia, paz. As escolhas musicais demonstraram-se espontaneamente as mais certeiras. Haynd teria dado uma fagulha de culpa pela leviandade inerente a todo o arranjo. De manhã colocávamos As Seis Suítes Para Violoncelo de Bach, executadas por Truls Mørk, o que acabava por ser quase insuportável de tão bonito e dividir a família em duas frentes: eu e as crianças, que eu havia trazido covardemente para meu lado desde que estavam no útero da mãe, e que são devotas por inteiro à Bach, Coltrane, Beethoven e Mingus; e a mãe delas, que suporta bem maciças cargas de mensagens oníricas, mas desde que não por 24 horas seguidas e desde que não anule seu direito feminino de ser ouvida em seus intensos e intermináveis monólogos. Mas Bach como trilha sonora para a paisagem indescritível de Furnas é realmente uma experiência espantosa. Confirmou o que já é demasiadamente sabido: que não se pode, ainda, ir muito além em tudo que Bach tem a oferecer. Um pouco da sugestão de amplitude dos cânions de Furnas, sua intuição de fim de mundo, sua água onipresente que luta contra os ossos e encharca mesmo no seco os agasalhos usados no corpo, acentua o alienismo que daqui a mais um século ainda será uma das características da música de Bach.
Ficamos uma semana desconectados da internet, de forma que a síndrome de abstinência do primeiro dia deu lugar a um certo esmorecimento de saber ao que retornar quando nos vimos novamente de frente à tela do computador. Mas as leituras foram espetaculares. Levei três livros na bagagem, todos devorados (lê-se melhor no frio, também).
Finalmente me vi diante deste cultuado escritor suíço, Robert Walser, que por tantos anos me neguei a ler. Inspirador de Kafka; encontrado morto aos 76 anos congelado na neve; frequentador eterno de sanatórios e clínicas para loucos; escritor pouco ou quase nada reconhecido em vida e que se negara a escrever uma palavra sequer na maturidade. Esses ingredientes já bastavam para não me chamar a atenção. Era uma espécie de Rimbaud que desvirtuou-se da cansativa e improdutiva vida do intelecto para se atirar em alguma vida de aventuras no extremo oposto de suas treinadas amenidades espirituais de burguês renegado, só que Walser era um tanto mais pedante por ter fugido logo para dentro do mais profundo de si mesmo. E eu estava vacinado desde meus 20 anos a todo dadaísmo disfarçado e nada me desmotivava mais do que a presença de mestres fundadores. Mas num desses rompantes de coragem (e também, vou confessar, atraído por essa belíssima capa aí do lado), adquiri o livro.
Pois Walser é uma surpresa compensadora do início ao fim. Li as 148 páginas desse magnífico romancinho num átimo (para usar uma antiga expressão condizente). As frases são velozes, curtas; só se percebe o germanismo da moda literária do ano em que foi lançada, 1909, pela polidez da condição de europeu nascido no século XIX mas formado pelas energias premonitórias do século XX que é fator inescapável mesmo ao menos alemão dos escritores (Heinrich Böll). E, ao contrário do que parece, é uma obra prenhe de antiintelectualismo, com poucas sombras (ou sombras completamente diferentes das de seu sucessor oficial, Kafka), sem a dogmática requerida pelos romances de pesadelo em se ajustar às paisagens freudianas e ao dicionário formal de sua interpretação. É uma história solta, descompromissada, submetida à narração em primeira pessoa do garoto Jakob von Gunten, que se interna no inexpugnável Instituto Benjamenta para aprender a humildade e a modéstia necessárias ao ofício de servir. Jakob é um jovem vivaz, cheio de sarcasmo, cheio de uma dúbia negação ao materialismo crescente da sociedade da virada do século que, ao mesmo tempo que parece lhe incutir asco, o atrai para confissões de que tudo que mais necessita é de muito dinheiro. Walser é muito eficaz em demontrar as incertezas de um adolescente que se esforça em se adaptar ao marasmo de uma instituição cuja função é a anulação do indivíduo e sua despersonalização massificadora, e como Jakob vai, aos poucos, se revoltando. Jacob é um narrador cheio de ódio e humor, o que torna Walser um escritor incrivelmente próximo e acessível. Não há como não passar a amar esse escritor que, segundo alguns biógrafos, simulou constantemente a loucura para manter-se distante da sociedade que sua lucidez exacerbada antevia como a mais destruidora para o espírito humano. O que ele tem de precursor de Kafka é sua proposital indefinição cenográfica, que, somada às personagens unidimensionais geralmente obcecadas pelas próprias intensidades, dão uma atmosfera de fábula opressiva. Mas ao final da leitura percebe-se o quanto Walser é um grande narrador, por sua visão de conjunto da obra e sua organização perspicaz. Coloca Salinger no chinelo.
Comprei junto com o volume de Walser esse livrinho charmoso com alguns dos contos fundamentais de Kafka. Também há nele os 109 aforismos reunidos na íntegra, que já valem o preço do livro. Kafka muitas vezes_ olha a heresia a que me disponho_ é melhor nos aforismos. Há várias entre essas 109 peças que nos envia a profundezas da reflexão, como essa: "Uma vez incorporado o mal, não se exige mais que se acredite nele." Ou essa: "Como é possível alguém alegrar-se com o mundo, a não ser quando se refugia nele?"
Reler O Veredicto e Na Colônia Penal é confirmar, sem ser preciso mas com renovada surpresa, que Kafka distribuiu sua lição de perícia narrativa e lúcida visão da condição humana sob a modernidade pelos maiores escritores do século XX, sendo difícil apontar alguém que não lhe seja um herdeiro direto. Lembro que Paulo Francis dizia que Borges não passava de uma cópia de Kafka; toda a literatura latino-americana se impregna da influência de Kafka, de Macondo à casa tomada de Cortázar, dos ambientes herméticos que pressupõe um deus militar no controle nos melhores romances de Llosa; e assim vai Piglia, Bolaño (lembro de uma cena arrebatadora em Detetives Selvagens, do encontro visto à distância, numa praça, entre Arturo Belano e Octávio Paz), Osman Lins. Assim também com Roth (que compôs uma louca variação de A Metamorfose, em torno de um enorme seio feminino em que se transforma o personagem da narrativa), as descrições kafkianas do interior dos tribunais norte-americanos que são o supra-sumo de Herzog, de Saul Bellow.
Kafka, que era formado em direito, funcionário de uma repartição de seguros, e escolhido certa vez como o homem mais bem vestido de Praga, dizia que a única coisa que lhe interessava na vida era a literatura. Como se tal afirmação fosse o revestimento premonitório de sua existência, acondicionando-o a ser ele um personagem da narrativa do século, há um pesar inerente em cada palavra de sua obra, uma tristeza evocativa ao lermos sua biografia. O terror que sentimos ao lermos a descrição da máquina de tortura e aniquilamento em Na Colônia Penal, que imprime à lâmina no corpo do sentenciado o seu crime e o atira numa fossa assim que o excesso de dor lhe condena à morte (passando pela cruel misericórdia de ser-lhe despejado na garganta uma papa de arroz durante o processo), é um terror que se ainda nos oprime hoje, ao leitor do começo do século passado provocava uma antecipação sensorial inédita que o preparava para as formas de terror inimagináveis dos campos de extermínio. Não à toa que, numa leitura que Kafka fez num sarau para amigos desse conto (apesar de extremamente reservado quanto à publicação, Kafka adorava ler em público seus contos), uma das senhoras à mesa desmaiou durante as passagens do funcionamento da máquina. Para se ter uma idéia do impacto e da importância de Na Colônia Penal, quando Hannah Arendt, exilada nos Estados Unidos, soube a confirmação oficial do que os nazistas fizeram nos campos de extermínio, ficou tão irremediavelmente chocada que só se restabeleceu meses depois. Ali Arendt, com toda sua potência filosófica, teve a compreensão sobre o fim das esperanças humanistas e dos séculos de atraso pela frente que a humanidade teria que purgar devido a esse inconcebível passo de auto-descobrimento. Um casal de amigos que a viu lendo a revelação do genocídio pelo New York Times testemunhou que sua palavras foram: Isso nunca poderia ter acontecido. E a frase que cunha em Reichmann em Jerusalém, uma das sentenças definidoras do século passado, sobre a banalidade do mal, não é mais que a releitura do aforisma de Kafka que copiei acima. O que estarreceu Arendt a ponto de quase fazê-la desistir de escrever, diante sua insuportável perda de fé na humanidade, Kafka já havia anunciado trinta anos antes. E as três irmãs de Kafka seriam exterminadas por uma variante coletiva de sua máquina, nas câmaras de gás nazistas, o que fecha o círculo do destino do escritor em ser ele mesmo um operário do estilo de niilismo e abjeção incorporado na narrativa do século XX.
O terceiro livro desta semana foi a primeira parte da biografia de Elias Canetti, A Língua Absolvida. Vou reservá-lo para uma futura resenha individual, assim que terminar as duas outras partes que compôem a trilogia. Só digo que confirma todas as críticas e opiniões que venho obtendo sobre essa trilogia há anos, e é mesmo um dos mais gratificantes e deliciosos textos que já tive a oportunidade de ler. E a questão do frio só acentua o prazer da leitura.
Ficamos uma semana desconectados da internet, de forma que a síndrome de abstinência do primeiro dia deu lugar a um certo esmorecimento de saber ao que retornar quando nos vimos novamente de frente à tela do computador. Mas as leituras foram espetaculares. Levei três livros na bagagem, todos devorados (lê-se melhor no frio, também).
Finalmente me vi diante deste cultuado escritor suíço, Robert Walser, que por tantos anos me neguei a ler. Inspirador de Kafka; encontrado morto aos 76 anos congelado na neve; frequentador eterno de sanatórios e clínicas para loucos; escritor pouco ou quase nada reconhecido em vida e que se negara a escrever uma palavra sequer na maturidade. Esses ingredientes já bastavam para não me chamar a atenção. Era uma espécie de Rimbaud que desvirtuou-se da cansativa e improdutiva vida do intelecto para se atirar em alguma vida de aventuras no extremo oposto de suas treinadas amenidades espirituais de burguês renegado, só que Walser era um tanto mais pedante por ter fugido logo para dentro do mais profundo de si mesmo. E eu estava vacinado desde meus 20 anos a todo dadaísmo disfarçado e nada me desmotivava mais do que a presença de mestres fundadores. Mas num desses rompantes de coragem (e também, vou confessar, atraído por essa belíssima capa aí do lado), adquiri o livro.
Pois Walser é uma surpresa compensadora do início ao fim. Li as 148 páginas desse magnífico romancinho num átimo (para usar uma antiga expressão condizente). As frases são velozes, curtas; só se percebe o germanismo da moda literária do ano em que foi lançada, 1909, pela polidez da condição de europeu nascido no século XIX mas formado pelas energias premonitórias do século XX que é fator inescapável mesmo ao menos alemão dos escritores (Heinrich Böll). E, ao contrário do que parece, é uma obra prenhe de antiintelectualismo, com poucas sombras (ou sombras completamente diferentes das de seu sucessor oficial, Kafka), sem a dogmática requerida pelos romances de pesadelo em se ajustar às paisagens freudianas e ao dicionário formal de sua interpretação. É uma história solta, descompromissada, submetida à narração em primeira pessoa do garoto Jakob von Gunten, que se interna no inexpugnável Instituto Benjamenta para aprender a humildade e a modéstia necessárias ao ofício de servir. Jakob é um jovem vivaz, cheio de sarcasmo, cheio de uma dúbia negação ao materialismo crescente da sociedade da virada do século que, ao mesmo tempo que parece lhe incutir asco, o atrai para confissões de que tudo que mais necessita é de muito dinheiro. Walser é muito eficaz em demontrar as incertezas de um adolescente que se esforça em se adaptar ao marasmo de uma instituição cuja função é a anulação do indivíduo e sua despersonalização massificadora, e como Jakob vai, aos poucos, se revoltando. Jacob é um narrador cheio de ódio e humor, o que torna Walser um escritor incrivelmente próximo e acessível. Não há como não passar a amar esse escritor que, segundo alguns biógrafos, simulou constantemente a loucura para manter-se distante da sociedade que sua lucidez exacerbada antevia como a mais destruidora para o espírito humano. O que ele tem de precursor de Kafka é sua proposital indefinição cenográfica, que, somada às personagens unidimensionais geralmente obcecadas pelas próprias intensidades, dão uma atmosfera de fábula opressiva. Mas ao final da leitura percebe-se o quanto Walser é um grande narrador, por sua visão de conjunto da obra e sua organização perspicaz. Coloca Salinger no chinelo.
Comprei junto com o volume de Walser esse livrinho charmoso com alguns dos contos fundamentais de Kafka. Também há nele os 109 aforismos reunidos na íntegra, que já valem o preço do livro. Kafka muitas vezes_ olha a heresia a que me disponho_ é melhor nos aforismos. Há várias entre essas 109 peças que nos envia a profundezas da reflexão, como essa: "Uma vez incorporado o mal, não se exige mais que se acredite nele." Ou essa: "Como é possível alguém alegrar-se com o mundo, a não ser quando se refugia nele?"
Reler O Veredicto e Na Colônia Penal é confirmar, sem ser preciso mas com renovada surpresa, que Kafka distribuiu sua lição de perícia narrativa e lúcida visão da condição humana sob a modernidade pelos maiores escritores do século XX, sendo difícil apontar alguém que não lhe seja um herdeiro direto. Lembro que Paulo Francis dizia que Borges não passava de uma cópia de Kafka; toda a literatura latino-americana se impregna da influência de Kafka, de Macondo à casa tomada de Cortázar, dos ambientes herméticos que pressupõe um deus militar no controle nos melhores romances de Llosa; e assim vai Piglia, Bolaño (lembro de uma cena arrebatadora em Detetives Selvagens, do encontro visto à distância, numa praça, entre Arturo Belano e Octávio Paz), Osman Lins. Assim também com Roth (que compôs uma louca variação de A Metamorfose, em torno de um enorme seio feminino em que se transforma o personagem da narrativa), as descrições kafkianas do interior dos tribunais norte-americanos que são o supra-sumo de Herzog, de Saul Bellow.
Kafka, que era formado em direito, funcionário de uma repartição de seguros, e escolhido certa vez como o homem mais bem vestido de Praga, dizia que a única coisa que lhe interessava na vida era a literatura. Como se tal afirmação fosse o revestimento premonitório de sua existência, acondicionando-o a ser ele um personagem da narrativa do século, há um pesar inerente em cada palavra de sua obra, uma tristeza evocativa ao lermos sua biografia. O terror que sentimos ao lermos a descrição da máquina de tortura e aniquilamento em Na Colônia Penal, que imprime à lâmina no corpo do sentenciado o seu crime e o atira numa fossa assim que o excesso de dor lhe condena à morte (passando pela cruel misericórdia de ser-lhe despejado na garganta uma papa de arroz durante o processo), é um terror que se ainda nos oprime hoje, ao leitor do começo do século passado provocava uma antecipação sensorial inédita que o preparava para as formas de terror inimagináveis dos campos de extermínio. Não à toa que, numa leitura que Kafka fez num sarau para amigos desse conto (apesar de extremamente reservado quanto à publicação, Kafka adorava ler em público seus contos), uma das senhoras à mesa desmaiou durante as passagens do funcionamento da máquina. Para se ter uma idéia do impacto e da importância de Na Colônia Penal, quando Hannah Arendt, exilada nos Estados Unidos, soube a confirmação oficial do que os nazistas fizeram nos campos de extermínio, ficou tão irremediavelmente chocada que só se restabeleceu meses depois. Ali Arendt, com toda sua potência filosófica, teve a compreensão sobre o fim das esperanças humanistas e dos séculos de atraso pela frente que a humanidade teria que purgar devido a esse inconcebível passo de auto-descobrimento. Um casal de amigos que a viu lendo a revelação do genocídio pelo New York Times testemunhou que sua palavras foram: Isso nunca poderia ter acontecido. E a frase que cunha em Reichmann em Jerusalém, uma das sentenças definidoras do século passado, sobre a banalidade do mal, não é mais que a releitura do aforisma de Kafka que copiei acima. O que estarreceu Arendt a ponto de quase fazê-la desistir de escrever, diante sua insuportável perda de fé na humanidade, Kafka já havia anunciado trinta anos antes. E as três irmãs de Kafka seriam exterminadas por uma variante coletiva de sua máquina, nas câmaras de gás nazistas, o que fecha o círculo do destino do escritor em ser ele mesmo um operário do estilo de niilismo e abjeção incorporado na narrativa do século XX.
O terceiro livro desta semana foi a primeira parte da biografia de Elias Canetti, A Língua Absolvida. Vou reservá-lo para uma futura resenha individual, assim que terminar as duas outras partes que compôem a trilogia. Só digo que confirma todas as críticas e opiniões que venho obtendo sobre essa trilogia há anos, e é mesmo um dos mais gratificantes e deliciosos textos que já tive a oportunidade de ler. E a questão do frio só acentua o prazer da leitura.