Já que minhas férias acabam hoje, e não terei tanto tempo livre para me dedicar ao blog_ não de forma programada_, vamos a um desses post preenche lacuna bem engraçadinhos. O início de uma lista alternativa de meus melhores romances. Preparados, fãs?
1. Os irmãos Karamázov, Fiódor Dostoiévski.
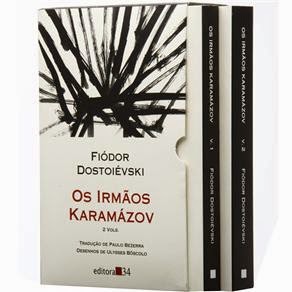
Convenhamos, a arte parasitante que sempre se alimentou de Dostoiévski é tétrica. Não me refiro nem ao trabalho que os acadêmicos fazem para causar terror no propenso leitor e desmotivá-lo para toda a vida quanto a um autor que é o maior barato, como Dostô, transformando-o em algo como um filósofo rancoroso complicado e sombrio. Me refiro aos desenhos, seja lá por qual firmada e bastante equívoca tradição, que atulham a grande maioria de edições da obra do moscovita. Nada contra ilustrações, aliás eu adoro quando são boas, mas as que desenham para Dostô segue uma odiosa estética monotemática de que devem ser pesadas, depressivas, sempre de um abstracionismo opressivo, sempre fazendo menção direta a patologias e maldição espiritual. Pegas isoladamente, sem que se saiba ligadas à obra para a qual foram feitas, podem facilmente ser confundidas com ilustrações de algum desses livrinhos pentecostais cheios de danações da alma e predigas de nociva atenção contra o pecado. Podem bem servir para figurarem também nesses panfletinhos que nos entregam nas esquinas falando sobre Madame Tal que lê as mãos e desfaz ou faz encostos. São realmente muito assustadores. E não são criações do mercado editorial brasileiro, sejamos justos. Já conheço muitas edições de Portugal e da Espanha, assim como de outros países de língua espanhola, em que o mesmo horrorama é fielmente seguido: loucura, depressão, esquizofrenia. Nas edições russas que já vi, também, como não deveria deixar de ser, estão lá: o velho trem fantasma que precede e muitas vezes encerra a vontade de ler Dostoiévski. Se me sobrasse tempo, interesse e verba, eu poderia fazer um estudo pormenorizado do porquê dessa aberração. Será uma contra-propaganda inteligente e perversa do regime soviético, para afastar o leitor? Ou será a recorrente obra dos ignorantes, que são armas de perversão mais antigas da Terra, que não leram a obra antes de trabalharem com ela, ou a leram bem mal, ou não a entenderam? Dostoiévski, meus irmãos (àqueles pequeninos que futuramente acharão esse blog de um autor já morto nas arqueologias das pesquisas pela net), nada tem a ver com esse negror e essa tristeza inexorável. Eu também, graças a essas pinturas, por muito tempo, na adolescência, fiquei afastado do Escritor Maníaco que me parecia ser o Dostoiévski, ou por me achar burro demais para um existencialismo tão expressivo, ou porque não queria que meus dias no reino inóspito da juventude ficassem ainda mais difíceis de serem vividos com aquelas dúvidas mefistofélicas que os desenhos demonstravam haver nos livros.
O mesmo ocorre com os livros da Editora 34. Caramba, o livro dos Karamázov tem excesso de ilustrações. Tem partes, no volume 1, em que elas aparecem a cada três páginas. Se somadas, creio dar um volume considerável de páginas que poderia bem ser retirado sem prejuízo algum para a estética da edição, além do benefício de diminuir substancialmente seu preço. Como disse, nada contra, mas por que os desenhos para Dostô não podem ser bonitos e refinados como os clássicos desenhos dos livros do Dickens, por exemplo? Por que algum discípulo do Gustavo Doré nunca fez desenhos para Dostô? Na certa, seria barrado pelos editores, que tem uma convenção a cumprir.
Encontrei um texto sobre o David Foster Wallace em que ele escreve para um amigo que os escritores atuais deveriam escrever com paixão e humanismo como fez e viveu Dostoièvski. Escreveu sobre isso após ter lido os cinco volumes daquela clássica biografia do Dostô (que ainda não li, mas é um dos planos para esse ano, fazer uma boa economia e adquirir tais livros, que são ofensivamente caros no Brasil). DFW tem se demonstrado um guia lúcido e valioso para novos escritores, que contudo esses tem seguido logo as características de DFW que ele mesmo deplorava e tratava com ironia sublime (como eu rio ao ver escritores enchendo seus livros de notas de rodapé, à maneira de DFW, mas demonstrando uma completa falta de compreensão do humor auto-destruidor de notas de rodapé do Wallace). Pois é isso aí, meu caro Wallace (que vontade que dá conversar com um cara desses, quando vejo seus profundos insights), a literatura estaria bem mais interessante, bem mais propícia a mudar os corações e os espíritos das pessoas, se Dostoiévski fosse mais lido e seguido. Nenhum livro que eu já li tem a octanagem sensorial e sensitiva, a verdade de frente e a paixão e o amor desencorporado, o enraivecido e bombástico abraço, que tem os Karamázov. É o livro mais humano que já li, o mais terno, o mais ferino. Isso não é um exagero. Podem vir os idiotas sofisticados que condenam os superlativos. Os Karamázov é superlativo, me curvo diante ele. O maior dos escritores escreve contra todas as pompas, contra os empolamentos, contra as etiquetas, e se declara humano, se rebaixa à condição pura do homem. Toda a literatura do século XX é filha de Dostoiévski, sobretudo dos Karamázov, o que demonstra o quanto a liberdade de seu autor em escrever um romance libertário foi revolucionária. Mas claro que, assim como os seguidores de DFW tendem a seguir as coisas erradas de seu mestre, os seguidores de Dostô retiraram essa franqueza da alma, essa comunhão, esse desnudamento dos Karamázov, decretando o que faz a grandiosidade do livro como algo brega, emotivo demais, e transformaram a escrita em algo progressivamente desumanizado, coisificada, pura em seu materialismo radical, em sua falta de glândulas, em sua robótica carnal intuída, em sua numerologia serial de fábrica. Tudo o que Dostô combate e abomina em Karamázov. O existencialismo desinibido e sem freios de Karamázov se transforma na sequidão destinada à derrota e à tristeza da literatura do século XX. E é contra isso que DFW ataca, o que não é um bom sinal que isso venha de um grande escritor que desistiu da vida. Sejamos frágeis sem vergonha alguma da fragilidade, como disse um dos mais devotos seguidores de Dostô, Tarkóvski. Voltemos a nos concentrar no homem, no humano, nessa época em que o relativismo ampara a destruição do mundo e a preparação já acionada do aparecimento de uma Coisa inimaginável para suplantar o homem (suplantar o homem no homem). Sejamos emotivos, falemos sobre o que interessa. Assim se sai dos Karamázov, transformado, com a certeza fecunda de que isso não é apenas um romance, transcende, arrebata, mexe. E é, por incrível que pareça, um grande romance que enche de felicidade diante as coisas estabelecidas, os obstáculos severos demais e intransponíveis demais. Nada é mais difícil para o homem do que fazer o óbvio, o que tem que ser feito. O que tem que ser feito para a preservação da identidade humana. Lembremos disso quando os carros pipas chegarem.
2. O homem sem qualidades, Robert Musil.

Um romance escrito por um matemático. Já viram isso, asseclas? Concebem o estranhismo de tal coisa, pequenos gafanhotos? Deixe-me ver... Primo Levi e Canetti foram químicos (o primeiro trabalhou isso em sua obra, o segundo confessava abominar quando passava de frente à antiga faculdade). Na história da literatura, talvez esse seja o único caso de um homem das ciências exatas a escrever uma grande obra, uma das maiores obras da literatura. E todo o livro contêm uma prosa maravilhosa e única em que apresenta a constância da análise espiritual com a abstração totalizadora da matemática. Ulrich, o herói, tece ensaios sobre a indústria cultural, sobre a história, onde o que mais aparece é sua compreensão de que na modernidade (o tempo é o pré-primeira guerra) cada vez é mais difícil às pessoas terem uma alma. As reflexões de Ulrich, apresentadas em terceira pessoa, são tão belas e profundas quanto o melhor de Nietzsche. Essas reflexões, tecidas durante as andanças de Ulrich por Viena, compõem várias das páginas mais bem escritas da literatura dos últimos cem anos. No meu entendimento, esse é o suprassumo, o ápice, dos romances-ensaios, gênero que detêm os melhores trabalhos de escritores como Thomas Mann, Philip Roth, Saul Bellow, Saramago, etc. Os que quiserem fazer um test-drive, leiam o capítulo 72, intitulado
"O dissimulado sorriso da ciência, ou primeiro encontro detalhado com o mal" e me digam se não é impossível não ficar cativado pelo poder das palavras de Musil. É difícil resumir o livro, mas aventuraria em dizer que se trata de personagens em diversos graus comprometidos com a necessidade de terem uma alma. Desde Ulrich, um matemático ultra-inteligente que se nega a ter as qualidades requisitadas pela sociedade da vida que se exibe_ um dos personagens mais livres da literatura (o fato de ser matemático não o faz cair na pobreza conceitual de liberdade-clichê do existencialismo e das demais escolas da depressão requintada)_; Arnheim, o rival intelectual de Ulrich, um empresário multi-milionário com sofisticadas ideias sobre a redenção neo-liberalista do homem, para quem todo o progresso anunciado no século é motivo de otimismo sobre os bens a serem colhidos para a humanidade (as más línguas dizem que Musil tomou Mann emprestado para criar este personagem)_ Arnheim também é responsável por capítulos extraordinários de reflexões contrárias às de Ulrich; até personagens díspares mas imortais, como o assassino no corredor da morte Moosbrugger, e as quatro mulheres com quem Ulrich se envolve. São personagens que trazem esse vínculo em comum: a procura pela legitimidade de uma alma, habitando um mundo no qual a destruição de todos os valores e a revelação de algo monstruoso e intolerável está para acontecer, um mundo que também busca desesperadamente por um significado, uma direção. Em todo o romance, os personagens estão empenhados na construção de uma liga mundial sedimentada na cultura germânica, chamada Ação Paralela, organização em que se revela ainda mais o vazio e o engano que são as reais forças a conduzirem a sociedade. Apenas Ulrich, em seu isolamento cerebral, se conserva íntegro, em um novo estoicismo.
O homem sem qualidades é um dos maiores e mais deliciosos romances de qualquer tempo.
3. O mestre e Margarida, Mikhail Bulgákov.
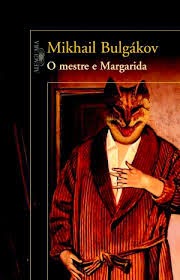.jpg)
Os capangas do capeta vem à Terra para acabar com a massacrante corrupção da União Soviética. Quem saboreou o gosto da vingança impossível de filmes como Busca implacável, O protetor e Lucy, vai adorar esse livro. Todas as outras pessoas também, desde que tenham ao menos 0,00001% de sangue nas veias. Aliás, todos os humanos vão adorar este livro. Quem não gostar, digo, quem não amar fervorosamente este livro e não o tiver entre seus preferidos, entra naquelas cifras de gente perigosa que não gosta de criança e cãezinhos. A diferença é que com estas últimas ainda dá para levar um papo descontraído na fila do banco. Bulgákov é bem melhor que Luc Besson. Outros autores russos são mestres na felicidade (Tolstói), no paisagismo com contestação social (Turguêniev), nas profundezas da alma com romance policial (Dostô), na ternura da visão sobre as grandes limitações humanas (Chékov), Bulgákov é mestre incomparável na arte da vingança. Notem bem: a vingança de Bulgákov é algo tão supremo que pode transformar a política, depor ditadores, acabar com injustiças. Não à toa esse seu romance foi condenado e perseguido por décadas. E o humor.... Deixe eu me sentar (como se eu estivesse capaz de digitar em pé depois de duas doses regradas de canjebrina): ninguém é mais engraçado que Bulgákov, ninguém. Há cenas nesse livro que provocam cãibras na barriga, sem exagero. Os demônios do livro são contrabalanceados com a narrativa dos últimos momentos de Jesus, o que localiza esse romance entre as grandes narrativas ficcionais sobre Cristo. O Cristo de Bulgákov é um personagem doce, simplório e sublime, que desconcerta os poderes instituídos. O Cristo de Bulgákov é todo o povo russo, que se conserva em uma primitiva ingenuidade protegida da perda total do ideal da revolução apodrecido por Stalin. Um belíssimo livro, que tem a mesma grandeza dos romancistas russos do século 19.
Aqui reproduzo um texto meu sobre esse romance:
Uma das minhas mais gratificantes leituras dos últimos tempos foi O mestre e Margarida, de Bulgákov. Relinchei de tanto rir o romance todo. Cheguei a babar em grande parte dele. Há um capítulo em que toda uma repartição pública, dessas repartições públicas stalinistas que conhecemos bem por aqui, é possuída: a visita de um dos asseclas do diabo faz com que os funcionários dela passem a cantar uma ópera (baseada na obra) de Púskhin. Ri tanto nesse capítulo que achei mesmo que a possessão demoníaca extrapolara as páginas e caíra sobre mim. Imaginem as pessoas em um prédio do governo não tendo como se controlar, com os olhos desesperados, todos cantando em alto e bom som toda uma obra operística, até serem internados em um manicômio_ e os ônibus que os conduzem passando por uma plateia de populares que acham que é alguma das marchas marciais acontecendo na avenida? Outra cena espetacular é a transformação de Margarida em bruxa, seu voo pelas paisagens noturnas magníficas da Rússia até um distante rio da Sibéria, onde ela se encontra com outras das instigantes figuras infernais para uma espécie de batismo. De imediato, Bulgákov se tornou meu mestre. Anos e anos para que ele chegasse até mim dessa forma sem formalidades, como se não fosse um dos acontecimentos da minha vida, mas uma trivialidade a mais.
O mestre e Margarida tem também uma narrativa sobre os últimos momentos de Cristo. Em certa época de minha juventude, eu lia tudo na alta literatura sobre Cristo: Barrabás, A última tentação, O evangelho segundo Jesus Cristo. Esses capítulos estão entre as melhores páginas apócrifas sobre o Cristo_ empatam com o magnífico e esotérico livro do Kazantzakis. Por que Bulgákov conta os momentos finais de Jesus em seu livro? Por que, em uma crítica fantástica que faz contra a corrupção do estado soviético, ele intercala esses momentos estranhos, deslocados? Seu cristo tem só um apóstolo, o cobrador de impostos Matheus. Todos são mencionados com seus nomes originais, o que causa uma maior ambientação humana no calor arrogante da Judéia, entre homens brutos cujas barbas parece que sentimos nas mãos: Jesus é Yeshua Ha-Notzri, Barrabás é Bar-Raban, Judas é Judas de Kerioth. Jesus está lá, trocando em miúdos, da mesma forma que Jesus está em Stalker, de Tarkóvski: um homem comum, bastante lelé da cuca, bastante medíocre em sua simploriedade constrangedora, inculto, mas que deixa Pôncio Pilatos fora dos eixos por suas enormes e inusuais palavras inéditas sobre o perdão, sobre a bondade intrínseca do homem. Jesus de Bulgákov é um homem que ninguém suporia, nem nos sonhos mais disparatados, ser algo mais que um louco de bom coração, vítima de sua própria desprovidão de astúcia. Mais uma vez, o Jesus de Bulgákov se encontra com o Jesus de Tarkóvski: em sua aposta de que a fragilidade é a verdadeira força.
Mas o mais fascinante aqui é a comitiva de seres infernais do romance. Bulgákov é um gênio visual: seu romance se assiste, não se lê (estudei métodos de leitura dinâmica que defendem a imaginação da leitura como forma de rapidez sem perder concentração, e nenhum escritor se emprega melhor a essa técnica que esse russo). As cenas são tão ricamente descritas, seus personagens são tão vivos e naturais, que lembro das cenas como se as tivesse visto: na audiência de Yeshua diante de Pilatos, quando Yeshua fala com Pilatos informalmente, como se fossem íntimos, o escrivão que anotava as palavras pára a pena e olha de queixo caído para seu chefe, e isso é oferecido com tanta maestria que dificilmente o cinema seria mais elaborado que a mente do leitor. E os diálogos!: meus irmãos, tenho sido presenteado com o que há de melhor em diálogos em minhas últimas leituras, e Bulgakóv é uma festa à inteligência, é uma overdose. Que prazer e aprendizado saber, mais uma vez, que a literatura pode ser tão libertadora e ensinar tanto.
Os demônios de Bulgákov_ demônios sem nenhuma misericórdia, maus até a medula, e fascinantemente sarcásticos e elegantes_, são como agentes da transformação, como se Deus, após ter mandado os arcanjos para Sodoma e Gomorra, cidades cujo nível de pecado quase perverteu essas criaturas imaculadas (lembro de minha avó pentecostal me lendo a famosa passagem em que os habitantes avaliam o potencial libidinosamente consumível da carne desses seres etéreos), ficasse mais receoso e enviasse dessa vez capangas incorruptíveis, fascinados pelo cumprimento dos terríveis expurgos. Ver as maldades que Azazello, o ser mais feio do universo, Behemoth, o famoso gato preto que anda sobre duas patas, Korôviev, e Hella, uma mulher nua com uma extensa cicatriz no pescoço, fazem sob o comando de Woland, o próprio demônio que se apresenta como doutor em magia negra, é uma maravilha. Nietzsche, que adorava Petrônio, teria adorado Bulgákov. Este romance é um relicário, desses que os fiéis apertam contra o peito à espera de justiça divina, e Bulgákov dá uma ostensiva justiça luciferina em que a hipocrisia da sociedade e a corrupção generalizada que parte do estado soviético se cumpre com decapitações de intelectuais do partido, oligofrenia de poetas ponderados, a loucura de agentes da burocracia. Seria uma vingança meramente placebo, se Bulgákov não fosse tão superior e magistral, tanto que seu romance foi censurado, abreviado, condenado, rasgado, desprezado. Em sociedades tão encalacradas na corrupção e na idiotice como a nossa, Bulgákov ensina, otimista, que a única salvação é o humor libertário, o humor corrosivo, iconoclasta, satânico, insubmisso, subversivo, violento e visceral. Se eu ainda tivesse capacidade de rezar, rezaria ao Santo Bulgákov que intercedesse por nós, para que o Demônio expurgasse esse nosso triste e intranscedente país.
4. A quarentena, Jean-Marie Gustave Le Clézio.

A situação de falta de água em São Paulo é uma dessas realidades difíceis de acreditar. Li em uma matéria que faltam menos que 50 dias para acabar de vez a água em São Paulo_ não que vai faltar, mas vai acabar toda a reserva de água. Os lenitivos para amenizar esse quadro de horror traz uma sensação de que o horror ficará mais acentuado ainda: serão enviados carros-pipas cheio de água colhida nas regiões interioranas com reservas ainda não esgotadas para a grande cidade, e esses caminhões distribuirão baldes de água em quantidades regradas para os moradores. Para diminuir o impacto da cena, essa frota de caminhões adentrará pela cidade de madrugada_ o que me lembra a fantasmagoria de Ensaio sobre a lucidez. A autora do artigo aventa todas as consequências que pode haver com esse estratagema: violência, desespero, roubo de caminhões, segregação. Ela retira um véu por sobre um detalhe incômodo: as pessoas se sentirão ofendidas em suas dignidades de não poderem dar descargas nas privadas, e isso aumentará ainda mais a situação de guerra. Creches, indústrias, empresas, escritórios, terão que dispensar seus funcionários por causa da falta de água, e isso descambará para uma crise econômica em avalanche e sem precedentes na história do país. Um convidado em um programa da Globo News desse final de semana tocou em mais uma das tantas feridas inesperadas que apareceu no corpo combalido da nação nesse começo dramático de ano: o Brasil se tornará, em questão dos próximos meses imediatos, a nova Grécia. Essa realidade se repete, em menor expoente mas não com menor gravidade, em Rio e Minas, e tudo indica que logo a calamidade estará instalada em todo o restante do país. A situação poderia em muito ser acautelada se os governantes de todas as instâncias tivessem alertado a população e tomado as precauções de racionamento certas, mas o ano passado era ano político e os políticos dessa nação inglória são o que são. Nas redes sociais e nas caixas de comentários dos informativos virtuais, é assustador ver os xingamentos entre pessoas que se dizem de São Paulo, e as que se dizem da região nordeste do país.
Após ler isso, minha filha deitou em meu colo e eu pensei o que eu faria para protegê-la, até onde eu iria. Imaginei-me abatido com um tiro nas costas junto a outras pessoas que invadiram residências de lotes fechados de alto luxo para roubar água. Imaginei o quanto foi terrível para os pais de Auschwitz ficarem impotentes diante o sofrimento de seus filhos. Imaginei o quanto essas reviravoltas da história é que são os nós por onde saltam as mudanças.
Esse livro trata de uma história de miséria e segregação e violência similar. Le Clézio imagina os meses em que seu avô ficou exilado em uma ilha, quando jovem, junto a um grupo de pessoas, em quarentena, porque sua família caiu em desgraça com o dirigente das Ilhas Maurício, para a qual não podia retornar. Nessa ilha fica a comunidade de doentes e os escravos. Nessa ilha, sediado pela fome, o avô conhece uma garota
índia pela qual se apaixona. Le Clézio prova através da literatura a força da perseverança para não ver o fim quando a desgraça atinge um elevado grau de opressão. Tudo é mágico e intensamente poético nesse livro. E uma lição de vida. E um potente sopro de esperança, como aliás são todos os livros de Le Clézio. O tema desse grande escritor sempre foi a esperança efetivada dos pacientes, dos simples, dos que não se desesperaram, para os quais todas as janelas e portas se fecharam e toda resposta foi um impiedoso
não. Mas que se deparam sempre com um novo e imprevisível caminho. Inesquecível!
5. Coração tão branco, Javier Marías
.jpg)
Coração tão branco é um progressivo suspense em que seu autor faz o que bem quer com o leitor. Começa com um capítulo onde é narrado com um assombroso coloquialismo um suicídio em família, segue capítulos que tem a melíflua dissimulação de nada terem a ver com o tema, e se encerra com o perfeito amarrar de todas as pontas soltas em uma tensão que lembra a coda de uma sinfonia clássica. Entremeando a narrativa, o livro está recheado de reflexões desse autor cujo sofisticado talento para a digressão se tornou uma assinatura. Minha porta de apresentação para Marías, esse romance me pareceu há cinco anos quando o li, o exemplo de uma obra genialmente elaborada, e me surpreendeu ainda mais saber que vendeu milhões de exemplares pelo mundo. Os títulos da maioria dos livros de Marías são belos e sonoros enigmas retirados de Shakespeare, e o deste remete a um momento de Macbeth de insuportável remorso. Tem a leveza de retratar enganos singelos de gestos de desconhecidos vistos pela janela, de crimes intuídos em rumores apreendidos pela parede que divide vizinhanças, e tem o peso quase macabro de descobrir que dessas supostas abstrações pode vir um horror por demais concreto.
6. Ruído branco, Don Delillo

A morte é um tabu nunca mencionado na sociedade mais hedonista do planeta, e esse romance sarcástico é um estudo cruel sobre as formas mais eficientes de um americano padrão descobrir que ele irá morrer. Tem a velocidade de incontroláveis acidentes fatais e um adstringente riso do estranho alívio que é se saber a um passo da morte. Os personagens mantêm a compulsiva ocupação de se distraírem da realidade da morte, com seus trabalhos regimentais, suas famílias justificadoras de um propósito de servidão injustificável, suas televisões e seus teatros frenéticos de consumo, até que um acidente em uma indústria química os confrontam com a perda total do eufemismo. Nessa epifania de insights de humor sombrio que o romance se torna, com alguns dos diálogos mais inventivos da literatura do último meio século, surge a possibilidade de se obter no mercado negro o milagre de não pensar mais na morte, através de uma pílula de um cientista maluco. Delillo consegue a proeza de tornar uma história que aparenta ser corriqueira (com um primeiro parágrafo propositalmente desmotivador com sua sufocante descrição de manobras de caminhões industriais), em uma mirabolante fábula urbana sobre a procura pelo Graal. O autor desvela a hipocrisia narcotizada de uma sociedade que simula se julgar imortal, dando a seus leitores a única evidência de permanência através da supressão lenitiva do medo da extinção, com freiras que cumprem sua função social de fingirem crer em um deus, de uma ciência cuja única conquista é aceitar da mesma forma o segredo de que não existe qualquer tipo de transcendência. E de homens e mulheres comuns cujo destino milenarmente aceito é a de animais intimamente cansados da prepotência de acreditarem deter uma fagulha de luz inorgânica. E como todas as grandes conquistas,
Ruído branco, apesar_ ou devido a_ de sua acidez, de sua inteligência impiedosa, passa a dedução de que essa fagulha possa estar na obra.
7. Visível escuridão, William Golding
O leitor de Faulkner vai reconhecer neste livro uma versão inglesa mais radical de
Luz em agosto. Há aqui todos os elementos desse grande romance de Faulkner: o exílio imposto a uma criança deformada (espiritual em um caso, e espiritual e fisicamente em outro); um zelador de colégio dotado de uma maldade genuína; em servo de deus que atinge um nível de reclusão auto-santificada que vai além da psicopatia; uma mulher que cumpre a contrapartida de ser a insígnia da liberdade em um mundo caótico. Esse é um dos poucos romances que conheço para o qual se pode usar o conceito de ser verdadeiramente assustador.
8. David Copperfield, Charles Dickens
Wislawa Szymborska diz em um poema que prefere Dickens a Dostoiévski. Li este livro a primeira vez quando tinha 17 anos, e fiquei deslumbrado. Desde então meu amor pela Londres de Dickens se tornou um dos constituintes de minha personalidade. A segunda leitura, feita nos últimos dois meses, foi ainda melhor. Merece um post, no momento certo.
9. Fome, Knut Hamsun

É uma pena que este romance esteja há décadas fora das prateleiras das livrarias nacionais. Hamsun aqui é todo eletricidade; esse livro exuma uma felicidade e uma juventude única, mesmo que seu tema seja os anos de fome e solidão terríveis que o jovem autor passou na Noruega, antes de se emigrar para os Estados Unidos. Tem a fé inabalável do primeiro Dostoiévski, e a pureza de se enxergar como um ser agarrado em suas convicções de incorruptibilidade em um mundo pérfido. É magistralmente bem escrito em sua antecipação da literatura beat, e desses romances que, lidos na febre da juventude, se tornam icônicos para toda a vida. Fui imensamente feliz quando o li em uma biblioteca, pois há nele a mesma paixão irrefreável pela literatura que eu sentia, a mesma vontade de abnegação em busca de aventuras de descobertas, a mesma percepção de que o mundo era maravilhoso demais para que eu não saísse em completa desobediência às convenções sem rumo certo para pertencer verdadeiramente a ele. O alter ego de Hamsun aqui é um vagabundo, despejado de pardieiros e com uma fome brutalizadora constante. A cada página o vemos apertar mais o cinto para que a calça não lhe caia pelas pernas magérrimas. E mesmo quando ele está atolado em total abandono e miséria, ele passa suas longas horas ociosas de segregado (sofrendo estalos no lombo de chicotes de cocheiros e apitos de guardas de praça) escrevendo um ensaio cujo propósito é desmistificar Kant, que para ele é um fanfarrão. Em todo o livro o narrador está sempre em volta com a escrita, mandando contos para revistas que na maioria das vezes os rejeitam. Hemingway escreveu certa vez que seu único propósito quando se lançou no mesmo empenho de suicida radical na escrita, era escrever tão bem como Hansum escrevia. Hamsun purgou fracassos terríveis, até que conseguiu provar para o mundo inóspito que sempre salientava não ter nenhum lugar para ele que sua tremenda prepotência em ser grande escritor se cumpriria. Era um escritor tão livre e concentrado, que quando recebeu o Nobel que consagrou toda sua gigantesca obra, esqueceu o polpudo cheque do prêmio no elevador do hotel.
10. VALIS, Philip K. Dick
Resenha em algum lugar do blog.




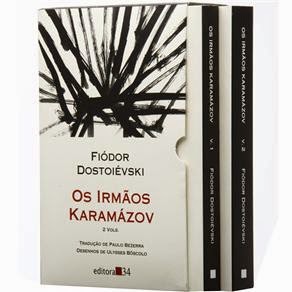

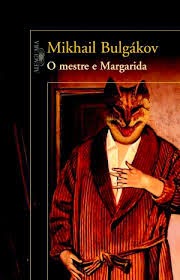.jpg)

.jpg)




