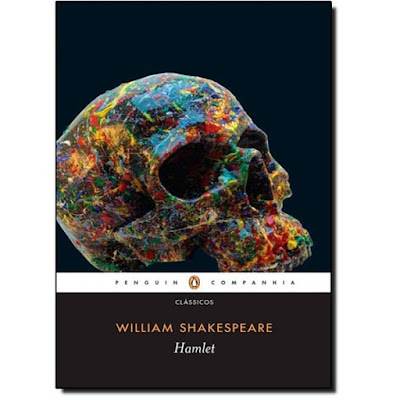Texto publicado há 4 anos. Original com comentários aqui. Já não me lembrava dele, e hoje na feira um amigo comentou que o havia lido. Charlles Campos volta de sua fama global para ser reconhecido em sua própria terra. Estudando aqui as formas de escapar à crucificação. Li-o novamente e o achei bem bom; confesso que não fiquei envergonhado, o que equivale a uma aprovação do gnomo que uma vez vivia na gaveta e agora deportou-se para a realidade virtual. Eu queria escrever um texto sobre Martin Shkreli, talvez o personagem real mais importante da semana. Não conhecem? Deem uma pesquisada na figura. Uma prova escarrada na cara dos estultos que pregam que o mercado regula-se a si mesmo.
No filme
A Estrada, a evocação do fim parte de onde em
Solaris, de Tarkovski, a ilusão de recomeço surge na submersão do personagem principal na crença em que sua esposa não havia suicidado. Em Tarkovski, pode-se adotar essa catarse desesperada, que não necessita dispor de mais efeitos de convencimento porque o enredo acaba aí, não há mais filme e as cortinas se fecham sobre essa loucura apiedante. O astronauta que se enredou nos sonhos causados pelo planeta ectoplásmico Solaris pode passar toda a eternidade como sempre quis, sem as angústias filosóficas que o acometiam, sem os pesadelos de que a morta lhe aparecia com o rosto carregado de acusações de culpa, sem a realidade de que está anos-luz de qualquer geografia terrestre que lhe seja familiar: sua rendição a Solaris lhe garante em troca voltar à lembrança da tarde em que ele, sua mulher e seu filho se deitam no gramado de sua casa de campo, absorvidos na mais sólida felicidade. O que importa os desdobramentos de seu possível despertar desse sonho?, o que importa se o astronauta não fez outra coisa que ser derrotado uma segunda vez, depois que se desatou de sua resignação ao estoicismo e se lançou nos braços lisérgicos de Solaris?, o que importa se essa fantasia não é senão os momentos iniciais de sua morte? Para a platéia, esse último e definitivo instante não só justifica a vida do astronauta como é o ponto nodal onde se coincidem poderosamente o alívio diante o niilismo da condição da história e a redenção do astronauta, o seu arrebatamento da crueza da existência. Por detrás dessa síncope freudiana onde se desaloja o recalque, há uma compensação estreitamente ligada ao mérito do martírio cristão. O astronauta, que foi voluntário para deixar o planeta Terra, alcança seu momento sublime que o liberta da culpa, da perda, da ausência de sentido; e tanto é maior esse escape quando pensamos que ele não despediu-se em definitivo da Terra, mas das avenidas gigantescas e vazias, e dos silêncios urbanos planificados da União Soviética de Tarkóvski, do protótipo de emancipação social mal realizado que descambou num pesadelo insuportavelmente pesado. Se Tarkovski mostra cenários de escombros e ruínas em filmes como
Stalker, em que um depósito de ferro velho se espraia ao longo da margem de um rio florestal, com o propósito de provocar a sensação de "descanso do capitalismo", em Solaris a cena final é o descanso
ao comunismo, a rendição em admitir não mais acreditar que o ser humano possa abraçar a Grande Ideia. No filme
À Espera de um Milagre, o indío cherokee no corredor da morte diz que o paraíso seria voltar e viver para sempre num momento de sua vida, quando se refugiou com uma moça numa cabana da montanha. Como todo ato de abnegação de superfície enganadora, o astronauta se sacrifica por um mentira egoísta, uma deportação do mundo real.
Já A Estrada é um negativo da última cena de Solaris mas que avança de forma corajosa para todo o longo discurso apocalíptico a que Tarkóvski alude. O pai e filho de um planeta Terra ominosamente destruído fazem parte dos sobreviventes da espécie humana que purgam o mais antieufemístico experimento filosófico: viver os derradeiros meses de absoluta carência em que sucumbirá a história. Não há alimentos, não há vegetação, não há animais. Existem apenas a peregrinação rumo a lugar nenhum, a paisagem cinzenta onipresente e o canibalismo, contra o qual o pai guarda um revólver com duas balas que deve ser usado contra eles mesmos caso sejam pegos pelos canibais. O pai ensina ao filho que deve colocar a ponta da arma de encontro o queixo e efetuar o disparo. Os conselhos que o pai dá ao filho ao longo do filme são todos dessa lava de sinceridade dura. Muito do desespero de sua mulher o contaminara depois que ela própria vencera suas tentativas de dissuasão e praticara o suicídio. Quando ela clamava para que a deixasse levar o filho com ela, ele, as sobrancelhas arqueadas, as feições maleabilizadas por um incognoscível heroísmo niilista, se dobrava para dentro de si mesmo, negando o pedido e sabendo que não poderia salvar a esposa. Seu filho, ele monologa enquanto atravessa um campo acinzentado por uma morte total e insubtraível, é a forma com que deus fala com ele, se alguma vez deus falara com ele. O impacto congelante do filme é justamente esse, entre todas as desgraças óbvias que são conhecidas dos filmes apocalípticos, a maior é a realidade explícita de que não há mais lugar para a mais inofensiva ilusão. O pai não tem o conforto de se afundar numa fantasia de retorno tarkovskiana. Não há mais a possibilidade desses artifícios de retornos plásticos, de analgésicos psicológicos para aliviar numa sobra de sonho a certeza do fim. Ser o último representante da espécie que detêm um vestígio de luz moral é um fardo sem propósito, algo de uma insuportável loucura. A Estrada seria um filme mais duro ainda de assistir se tivesse caído nas mãos de um Tarkovski moderno e independente que pudesse ter o benefício de olhar a substância do que sobrou das expectativas humanas a partir de um lugar lúcido na América. Quais cores ele teria usado para representar a destruição da paisagem, já que um de seus méritos maiores foi sempre prescindir dos efeitos especiais? Teria esse Tarkóvski usado em substituição à ausência de um técnica cinematográfica caríssima a mesma astúcia sublime que fez em Solaris para representar a solidão extrema de uma sociedade planificada futura, usando longos takes das ruas soviéticas? Ninguém como Tarkovski conseguia traduzir o vazio e o medo interior (ou o medo do vazio) nas filmagens puras da natureza, seja urbana ou os escombros urbanos despejados no campo.
Dos diretores americanos atuais, há uma dupla que detêm o mesmo poderoso talento de Tarkóvski em explorar a mentalidade de derrocada e de trânsito para lugar nenhum do homem moderno. Trata-se dos irmãos Coen, cujo mote sensitivo de seus filmes é o de carregar o espectador de uma sombria premonição que algumas vezes trafega pelo terreno de insinuações kafkianas. Seus estudos do contraste da vida simples com a promiscuidade multitudinária das grandes cidades usa de um moralismo vago mas suficientemente não deletério para a sua arte, no estilo tire suas próprias conclusões e desprovido de qualquer cinismo maniqueísta. O casal imune à doença de assassinatos banais de Fargo, no final do filme em que a policial interpretada por Frances McDormand retorna para o refúgio seguro do seu lar, é mostrado sentado diante a televisão, num laconismo carinhoso mas sem surpresas do amor estabelecido. Nos filmes dos irmãos Coen já não se espera alcançar o grande Outro, os personagens já possuem um gene plenamente adaptado vindo do trabalho de acomodação paulatina das gerações anteriores para se manterem num estado acomodativo inquestionável. Os vilões só querem para si_ só são biologicamente capazes de querer para si_ algum tipo de benefício oferecido pelo pobre horizonte restringido ao mínimo denominador comum da ausência do grande Outro: alguns milhares de dólares, alguma falcatrua que não envolve o apreço das cobiças gigantescas dos gângsters dos filmes noir. São desprovidos de emoções exautadas, tanto de amores furiosos ou ambições furiosas; entram em atribulações apenas pela propensão natural da espécie, mas não por uma convocação demoníaca. Os personagens que tem direito à felicidade morna da não participação são aqueles que, seguindo a máxima pascaliana, não saem de seus quartos para não promoverem o mal. São personagens que não vivem tempos interessantes, e, na norma moderna de um presente perpétuo, refestelam-se no restolho plastificado das grandes emoções, simulam serem cidadãos e seres humanos involuntariamente, reagindo à concepção secreta que trabalham no interior de seus genes, pois não sabem o que na verdade é um ser humano e um cidadão.
Não à toa que um dos maiores filmes dos irmãos Coen veio do casamento com a obra de um escritor sintomático como Cormac McCarthy, o autor do romance que gerou a adaptação de A Estrada. Em Onde os Fracos Não Tem Vez, a adaptação da obra de McCarthy feita pelos irmãos Coen, vemos uma série de personagens automotivos, que são impulsionados a agirem por razão nenhuma. O assassino interpretado por Javier Bardem vai deixando uma fileira de corpos por onde passa, usando um compressor de ar e uma espingarda com silenciador. No meio do filme, um policial oferece a análise do assassino: ele não mata por dinheiro, mas por ser uma máquina inexplicável e compulsiva. O assassino detêm, contudo, um código moral, que usa em duas de suas vítimas para avaliar se o destino consubstanciado no cara ou coroa de uma moeda vai autorizar que elas sejam mortas ou poupadas. Não há uma metafísica, uma transcendência, um universo mental exra-orbitante, ou qualquer espiritualidade no mundo bastante aproximado do real criado pelos irmãos Coen. É um mundo intersticial que subjaz no deserto das grandes ideias, das grandes aspirações, um mundo apaticamente desumorado e regido por uma funcionalidade cega e sem eficiência_ porque não procura eficiência, a eficiência não tem sentido. São comédias criadas para não terem graça, e tragédias feitas para não obterem nenhum impacto trágico. Aí a genialidade dos irmãos Coen: lidar com as emoções aplainadas, o vazio de sentido. Daí que o impacto vem como a inesperada e ensurdecedora explosão da barreira de som quebrada, quando os irmãos Coen sorrateiramente nos manda por cima a moral sintomática, a cobrança subliminar por reação. Não há um grande Outro, ou Ele só surge na inversão indestituível da morte, como em Um Homem Sério, na magnífica cena final, uma das maiores do cinema, em que tudo feito pelo homem do título para escapar de um destino cotidiano é engolido por uma outra solução da qual ele não pode se safar. Ou as cenas gêmeas de Onde os Fracos Não Tem Vez, em que o assassino e o cowboy feridos, cada um em um momento e lugar diferente, perguntam a um adolescente (a nova geração) quanto querem por sua camisa, para que possam esconder o sangue das feridas. Ao cowboy, o adolescente junto com seu grupo, estipulam um preço alto, a visão do sofrimento não motiva qualquer outra reação humanitária ou de pena diante a alteridade. Diante o assassino, um dos adolescentes lhe entrega a camisa e diz que não precisa ser pago, que a camisa lhe será dada de graça; o assassino não aceita a gentileza, e impõe que o adolescente receba um maço de dinheiro pela camisa. Quando foge, o adolescente sem a camisa e seu colega começam a discutir pelo dinheiro.
Slavoj Zizek diz que a humanidade nesses tempos determinantes em que vigoram diferentes correntes de apocalipsismos, tanto o ecológico, o biopolítico e o do caminho para a total desregulamentação dos mercados, deveria assumir a tentativa de solução de que o grande Outro não existe, e trabalhar na recuperação a partir daí. Aceitar que o fim não está confortavelmente próximo, mas é uma realidade inevitável em franca velocidade_ e trabalhar do futuro para o passado para mudar essa nossa triste condição. Não cogitarmos intimamente que haverá alguma força exterior que nos salvará, que agirá por nós. Não o descrédito existencialista, não um recurso vaidoso sartreano de empolarmos de filosofia niilista e reivindicarmos a supremacia da liberdade humana. Zizek propõe algo de extrema chatice funcional e desprovida de qualquer instigante exercício imagético: a restauração da humanidade feita por nós mesmos, através dos únicos canais utilizáveis que se fazem efetivos, a política, a economia, o controle reducionista direto. Nada de abstrações e lamentos sofismáveis. E cita o que foi dito por um amigo, que nos tempos atuais os poetas são mais importantes que os filósofos e analistas políticos, pois eles oferecem a alucinação que está além da teoria assepsiada pelo filtro de equilíbrio acadêmico. Nisso, a mensagem de Solaris, desatrela-se do propósito político circunscrito à crítica da sociedade planificada da União Soviética e amplia-se para toda a humanidade. Filmes como A Estrada e os filmes dos irmãos Coen já não falam da condição caótica dos Estados Unidos ou de uma nação e um povo específico. Como diz Zizek, o conceito de Marx para o proletariado há muito já se subtraiu dos funcionários escravizados das fábricas alemães e inglesas, e abarca agora todos nós. Todo nós compomos a nova proletarização em nossos redutos grupais onde, aos poucos, a ausência do Estado nos condiciona a uma marginalização onde são empregadas regras internas próprias. A favela vai se tornando o mundo.