Viajar em época de carnaval? Só se eu fosse muito louco. Só ontem, o que seria para todos os termos técnicos a véspera da festa, na via principal de acesso à capital do estado houve 25 acidentes de carro, com dezenas de feridos e duas mortes. Aqui na minha cidade dormitório, uma chuva em forma de hecatombe destruiu árvores lançando-as ao alto pela raiz por pura traquinagem, e duas torres convertedoras de energia responsáveis pela luz elétrica de dezenove cidades ruíram sob a força dos ventos, o que resultou em dez horas de blecaute. Sem o som do carnaval de rua invadindo pela janela, mas também sem a possibilidade da consumação do vinho chileno ouvindo Coltrane. Mas hoje tudo já está preparado, nas duas frentes opostas: as moças de bermudas vestidas com os leves abadás coloridos andando pelas ruas, os carros atolados de playboys dobrando esquinas com uma velocidade perigosa; e eu desse meu lado por detrás das barricadas. Durante toda a tarde ensaiei o que será a audição noturna desse maravilhoso box de 4 álbuns de John Coltrane, considerado por todos os blogs estrangeiros especializados em jazz como "one of the most important live sets from the ´60s", e uma das melhores apresentações ao vivo de Coltrane. Gostaria muito de tê-los no original, mas o preço pela Livraria Cultura é exorbitante. Mas, os interessados podem consegui-lo aqui: http://butseriouslyfolks11.blogspot.com/2011/08/john-coltrane-complete-1961-village.html, em 320 kbps. Mas, peço que se atentem para o cabeçalho do referido blog, o terceiro parágrafo acima do post. Trata-se de um blog tesouro, maravilhosamente marginal, e que seja um segredo entre nós, para que seja preservado. Daqui uns dois dias, vou apagar o link, por segurança. A música: de primeira, sublime, envolvente. Inserções ao ponto de Eric Dolphy, Garvin Bushell e Roy Haynes. Mas, após ouvi-lo, cuidado: qualquer exposição física além do umbral da porta rumo à rua, pode gerar uma severa constipação!
sábado, 18 de fevereiro de 2012
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
Uma Comunidade Anônima de Leitores
Sempre que me cai nas mãos um dos generosos livros de bolso da L&PM tenho a aquecedora impressão de que faço parte de uma imensa multidão de leitores. A cada semana compro um ou dois desses livrinhos que foram feitos com a doce ardilosidade de serem propositadamente tratados com leve desdem. São o que equivaleriam às moedinhas de troco no mercado editorial. São mais de mil títulos, por preços que variam de 5 a 50 reais, sendo que a grande média é de volumes que custam em torno de 15 reais. Todo leitor sabe que um livro por esse preço é um prodígio, ainda mais tendo em consideração que o conteúdo da L&PM é de primeiríssima qualidade. Seu catálogo é tão valiosamente multifacetado que essa editora bate constantemente os recordes mais invejáveis da indústria do livro nacional. Primeiro, é dona da maior coleção de livros de bolso do Brasil; segundo, possui um acervo de clássicos que mostra ter nos bastidores uma equipe empresarial com grandes conhecimentos eruditos: há à disposição, em "bolso-livro", Guerra e Paz, Dom Quixote, O Grande Gatsby, Enquanto Agonizo, entre muito e muitos outros. O ecumenismo dessa coleção é impressionante: divide espaço com os clássicos a obra de Agatha Christie, George Simenon, e os quadrinos do Hagar, o Horrível. É dona da segunda melhor tradução de Kafka da língua pátria, a assinada por Marcelo Backes.
Por isso que, nesta semana, ao me sentar com um livro da coleção recém adquirido, senti esse acolhedor pertencimento a um grupo de pessoas que ama os livros. Na verdade comprei dois: Por Que Não Sou Cristão, do Bertrand Russell, e On The Road - O Manuscrito Original, de Jack Kerouac. O formato dos livros de bolso são magnéticos para a leitura. Você começa folheando descompromissadamente, e logo se vê já na metade da leitura. Algo que não ocorre com um livro de tamanho convencional, que se compra já sabendo a programação temporal certa em que se irá lê-lo. O Russell trata-se de um namoro antigo, quando li um diálogo entre o filósofo britânico e o padre Copleston, há muito tempo, numa biblioteca da universidade. Pensei, na época, como os dois eram capazes de falar literariamente, de maneira profunda e controlada, diante os microfones do programa de rádio que transmitiu o debate. Uma oratória que tentei imitar diversas vezes, um exercício ainda mais difícil para um gago. O livrinho é prazeroso. Russell era um anticlerical ferrenho, escrevia com um leveza de quem apurou o intelecto a um ponto tendente ao didatismo_ o que mostra em sua famosa coleção da história da filosofia_, e sua elegância britânica o mantêm nos limites da polidez. E são nestas características que estão seus maiores problemas. Falta-lhe acidez; sua educação inibe ironias mais rascantes; seu cientificismo exagerado aposta com descomunal segurança nos alicerces da razão. Foi um matemático brilhante, e como todo enxadrista da matemática, era imensamente obtuso para tudo que não fosse devidamente enquadrado na metafísica da lógica. Por exemplo, Russell refuta todas as ditas provas da existência divina, propostas por filósofos católicos, como Thomas de Aquino, uma a uma, mas suas explicações sobre a gratuidade do universo baseiam-se em prerrogativas tão absurdas quanto as que ele condena como mentiras ou anorexia do esclarecimento. Ele intui_ outro aspecto interessante é justamente a sua intuição, morna e bem-disciplinada pelos limites da razão, tal qual o seu tom de lord inglês_ que o universo sempre existiu, em oposição à ideia de que foi criado, pois esta última pressupõe o regressão matemática de que algo ou alguém o criou. E, isto posto, a lógica pregressa determina que algo ou alguém criou o algo ou alguém que criou o universo. Então, Russell se livra desse labirinto incômodo apenas aceitando que tudo que existe sempre existiu. Mas cai em duas contradições que seu alto intelecto não consegue apreender: ele diz que o universo terá um fim, localizado a incomensurável quantidade de anos à frente; como algo que não tem início pode ter um fim? E, a segunda questão é: não é tão absurdo crer que tudo sempre existiu, do mesmo modo que crer que tudo partiu de uma consciência alheia auto-promotora? Falta a Russell a noção devida do absurdo pascaliano; isso o torna assepticamente apoético e desprovido dos ritmos vernaculares da tragédia. Um filósofo não pode, assim como ele, negar a doce ausência de significados de transcendência do homem alegando que não existe mente, que cada um de nós é uma série de inteirações químicas sem núcleo de organização fixo, inteirações que se repetem automaticamente instante a instante como um miasma que muda de forma sobre a superfície de um rio. Há de se ter uma elegância muito acima da polidez inglesa para tratar dessas coisas. A selvagem elegância sinfônica de Nietsche e Schopenhauer
Quanto a Kerouac, não há muito o que dizer. Sempre gostei de On the Road; esse livrinho faz mais parte de meu universo pessoal do que vários outros que tratei apaixonadamente por aqui. Não consigo entender por que não lançaram esse manuscrito original há mais tempo, mas só em 2007, quando então todos os nomes citados ipsis litteris no texto já há muito estavam mortos. Para mim é uma obra-prima suburbana, rústica, iletrada, bêbada, frenética, piegas, altamente comburente, divertidíssima, e tantas mais palavras que me faltam neste momento para defini-la. Tem um lógica interna o fato de só uns anos para cá estar eu lendo autores em edições definitivas, superioras à traduções ou versões que li deles na adolescência. Dostoiévski, Tolstói e Kerouac. Essa versão de On the Road é bem superior à anterior, lançada desde 1957. Como todos sabem, Kerouac escreveu o livro em menos de um mês, usando um rolo de papel em branco de gráfica de jornal que jorrava por sua máquina de datilografia. Neste manuscrito original, além dos nomes dos personagens estarem sem falseamento, todo o texto está em um único parágrafo e sem a divisão de capítulos. Lendo o original, fica gritante o erro de terem publicado o texto cheio de divisões, cortes, capítulos e sub-capítulos. Não se pode criticar On the Road usando a manjada inteligência crítica usual dos acadêmicos literários. Parafraseando alguém que disse de Bitches Brew, o antológico álbum de fusion do Miles Davis, não ser jazz, por isso não poderia ser criticado como jazz, On the Road não é simplesmente literatura, por isso não pode ser criticado como literatura. Há muitas partes do livro que extravasam ingenuidade, que mostram, pelo olhar de um crítico acadêmico, técnicas de escrita capengas. Mas há poucas obras que tem a força desse livro, a sinceridade, a mágica, o sonho. Lendo-o, o leitor sente novamente que a literatura é algo importante, que a literatura muda o mundo. Os personagens_ Allen Ginsberg, Neal Cassady, William Burroughs, o próprio Kerouac, e vários outros_ vivem por uma ideia, que hora e outra sempre se fundamenta na fé da força da escrita. E é muito bom viajar com eles. Não evito falar que a companhia deles enseja um calor saudável nestes tempos de mornidão ou friezas permanentes. Relendo Kerouac, é inegável ver a imensa influência dele sobre Bolaño. Lembro do García Márquez jovem perguntando a um de seus amigos intelectuais mais velhos se Faulkner não seria mera erudição talentosa, ao que o seu mentor lhe responde, simpática e seguramente: "Não se preocupe, se Faulkner estivesse aqui, teria um lugar garantido em nossa mesa." Na minha mesa, Kerouac sempre será bem vindo.
quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012
As Afirmações Metafísicas de Philip Glass
O Milton Ribeiro já cometeu várias vezes a heresia de dizer que Philip Glass é o Paulo Coelho dos compositores minimalistas. Com aquela fina percepção que todos nós temos para compreender o significado da maldade mais truncada, sei perfeitamente o que ele quis dizer. Pelos extensos conhecimentos_ imbatíveis_ sobre música erudita que tem, Milton não quis dizer que Philip Glass é um sucesso financeiro como o autor brasileiro é, mas que Philip Glass é um fenômeno entre os incautos, uma notoriedade da qual os médio ou baixo apreciadores de música cometem o engano de considerar como artista de primeiro time. Não culpo o Milton de esnobismo gustativo_ quer alguém que comete mais esse pecado do que eu? O co-autor de um dos blogs mais magníficos que compartilha tesouros da música erudita (e, hora e outra, do jazz), o PQPBach, sabe que Glass sempre foi um batalhador para impor a sua música. No livro de Alex Ross, O Resto É Ruído, deixa-se claro que Glass teve que sobreviver como taxista mesmo em boa parte do tempo em que era conhecido como um dos papas do minimalismo. Por isso, Glass está longe de ser um mega-star, termo aliás muitas vezes incompatível com compositores eruditos do século XX. É uma pena, sr. Ribeiro! O Milton poucas vezes visita esse blog, mas já foi o responsável por cifras incomuns de audiência quando expõe alguns post meus no jornal virtual Sul 21 (um texto meu sobre Dostoiévski, publicado lá, me deixou constrangido pela repercussão em números de visitas), por isso, é muito provável que seu silêncio nos comentários deste post figure mais humilhante para manter o quanto Philip Glass lhe é desprezível. Como vingança, sempre lembro que o seu tão cultuado Chico Buarque para mim é excessivamente super-estimado.
Mas vamos lá ao que interessa. O download parece que acabou, ou está em esfriamento. Sorte que tenho dois HDs externos, com toda a música que eu sempre quis, e até uma grande maioria que eu nem imaginava existir. Neles, uns 40 álbuns de Glass. Coisas como Einstein on the Beach ainda me afiguram difíceis. Mas há, ao menos, 4 obras-primas: o álbum de Philip Glass com Ravi Shankar, Passages; um álbum em que o violinista Gidon Kremer executa obras de Glass, Arvo Pärt e Vladimir Martynov, chamado Silencio; e as duas primeiras partes do projeto Koyaanisqatsi (tenho um grande adesivo com essa palavra estigmatizada colada no vidro traseiro do meu carro, mas nunca consigo escrevê-la sem consulta). O Passages é um encontro multiculturalístico do minimalismo americano com a música indiana de Shankar, um disco que me impressiona sempre por sua leveza, sua delicadeza e sensibilidade. O Silencio é o que o título propõe; não sei quem falou que música é o silêncio em movimento, e esse é o mote da obra: um sofisticado exercício de aquietamento, um convite sério ao relaxamento e esquecimento nirvânico. A parte de Glass oferece uma espécie de exposição didática com solos de diversos instrumentos, finalizados com o estranhismo de uma baqueta batendo em pontuação. Aliás, Glass é grande por conseguir fazer o que os grandes artistas conseguem: causar uma adstringente sensação de estranhismo no ouvinte. Confesso que quando ouço essa obra, e chega o isolado momento da baqueta, os pelos da minha nuca arrepiam.
Não há como passar indiferente diante o espetáculo único entre imagem e música dos 3 filmes do Koyaanisqatsi. Trata-se de uma trilogia, protagonizada pela direção maravilhosa de Godfrey Reggio e a trilha sonora de Glass. Os títulos dos filmes são Koyaanisqatsi, Powaqqatsi e Naqovqatsi. A última parte, confesso, não é tão soberba quanto as duas primeiras. Mas as duas primeiras formam um contraponto temático entre a vida mecanizada e vazia das cidades grandes, e a vida rústica das sociedades com padrões econômicos primitivos que subsistem hoje. Por isso, é uma viagem estética de tirar o fôlego. Eu estava reassistindo ao primeiro filme no quarto, num volume alto, quando minha esposa bateu à porta perguntando que diabos de música perturbadora era aquela, estaria eu jogando vídeo-game? E a questão é justamente esta: a música do primeiro filme é inseparável das imagens. Glass compôs uma música perturbadora, desagradável, mecânica, sem alma, fatídica, que recheia Koyaanisqatsi e enreda o espectador num ambiente de pinball. E isto contem uma força de catarse inigualável. Em minha vida de assistidor de cinema (para mim, uma arte inferior, sobre a qual não exerço uma crítica severa), jamais fui tão tocado por um filme como por esses dois. A sucessão de imagens é vertiginosa, hipnótica, encantadora, que começa com imagens da natureza, passa pelo frenetismo desindividualizante do cotidiano massificado das metrópoles, carros trafegando em velocidade ultra-acelerada, as pessoas como formigas nas atividades de espera nos metrôs, (rostos em calado pânico, de quem diz o que estou fazendo aqui?), prédios implodindo, prédios de vidros espelhados das megacorporações, e termina, num acerto mágico, nas imagens de um ônibus espacial explodindo_ acompanha por longos minutos, num gesto de frieza artística do cinegrafista, uma das peças do motor da nave em chamas caindo lentamente do céu, enquanto o tema de abertura de Glass retorna, em sua profecia sombria, seu catatonismo desconsolado, repetindo em vozes de barítonos o título do filme, KOYAANISQATSI, KOYAANISQATSI, KOYAANISQATSI. E o niilismo da música de Glass é um despertador, um murro na cara!
 |
| Cena dos mineiros de Serra Pelada, em Powaqqatsi |
Já Powaqqatsi começa com duas das músicas mais bonitas de Glass. Uma epifania de apitos, percussão e coro de crianças brincando ciranda, enquanto a câmera mostra por seis minutos, numa fotografia renascentista, os mineiros de Serra Pelada. Belas pernas masculinas (não estranhem, a fotografia te obriga a apreciar aquela juventude feérica atrás do ouro) subindo por extensas e superpopulosas escadas verticais, com sacos de lama nas costas, e à beira do abismo. Em dado momento, a câmera flagra um mineiro sendo carregado por outros homens, após ter despencado de uma das escadas. A cena, de inigualável beleza, lembra a Pietá, de Michelangelo. Depois, vem, num ritmo lento que te leva lágrimas aos olhos, diversas cenas de povos orientais que vivem da pesca e da agricultura. A música de Glass, que aqui tem o assertivo nome de Hymn, enche o coração, de forma que aumenta-se o volume da tv e fica-se literalmente imóvel dos pés à cabeça, em pleno deslumbramento. Uma das cenas famosas desse segundo filme é a vela remendada de uma jangada em alto mar, se estendendo a todos os ventos; um remendo multicolorido que simboliza todas as nações, todos os povos. Sério: é um filme de beleza quase insuportável.
Só essa trilogia já serviu para atestar a genialidade de Glass.
Cenas de Koyaanisqatsi; citando uma frase de Saul Bellow, "em quase todos os rostos, sinais de uma crítica mais profunda ou interpretação do destino_ olhos com afirmações metafísicas":
 |
| Philip Glass |
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012
Desabafo (ou, Um Viagra para Ler Vila-Matas)
Colocando de lado o apreciador crítico doutrinado de literatura, deixando-o descansar (sem que me ouça), e dando livre expressão ao meu mais íntimo desabafo, pergunto: por que a literatura atual é tão chata? Passa-me pela cabeça essa noção de que um ranço de falta de tesão domina a escrita dos últimos 20 anos, enquanto leio, nessa tarde de calor silenciosa de domingo, o escritor espanhol Enrique Vila-Matas. Já li vários livros de Vila-Matas, e esse agora, Bartleby e Companhia, saquei-o da estante com a impressão de que seria um intermezzo divertido e rápido à leitura mais séria que venho tendo com meu ciclo de Proust. Não posso dizer que Vila-Matas me decepcionara. Dos cinco ou seis livros que li dele, gostei de Dublinesca (há uma resenha dele por aqui), mas esse, como todo o restante desse autor, agrada a uma parte de meu ego de leitor que nada tem a ver com o prazer da leitura, mas tem a ver com_ e aqui, ofereço-me em penitência, pois trata-se de uma coisa da qual nutro profundo desprezo_ do vestígio de seguidor de modas acadêmicas que infere em meu lado de consumidor de ideias. Vila-Matas é um porre, diga-se de uma vez. Esse Bartleby, 47 páginas que li, é muito chato, com seu insight de ser um compêndio de notas de rodapé, e não um romance propriamente dito. Eu vim de uma geração de leitores que se satisfazia com uma leitura onde estética e movimento se equilibravam sem que uma sobrepujasse a outra, uma geração de leitores que adora a literatura sanguínea norte-americana, os grandes cowboys da literatura latino-americana, e de tudo aquilo que rondasse a rede de coalizões de paixões humanas registradas pelos russos pré-revolucionários. Por isso, para cada Vila-Matas imberbe, fascinado apenas por seu talento oracular de pregar a um bando de pretensos escritores de universidades, anteponho um Richard Ford, um Cormac McCarthy, um bom Turgeniev, um desses Günter Grass com o qual nem o cinema pode com ele, ou um Cândida Erêndira ou qualquer conto de Àngel Astúrias que faça sentir de novo a pulsação. Depus de lado o Bartleby, sentindo uma súbita saudade de um romancinho de 100 páginas que li há anos, Vida Selvagem, de Richard Ford, que me faz até hoje sentir a delícia daquela história onde não se falava de livros, ou da morte de livros, ou da porra do manual que o escritor blassé deve seguir para ser um francês pendurado nas portas internas dos armários de um tipo muito específico e inútil de nerd das letras, mas se falava da vida e de seres humanos. Lembrei-me de Todos os Belos Cavalos, um romancinho de cento e poucas páginas de Cormac McCarthy, que ainda hoje me faz idealizar o quanto perdi em não ser um adestrador de cavalos caído por força do mais atroz destino na fronteira entre México e Estados Unidos, o quanto seria feliz com isso.
Agora que falo com minhas angústias mais sinceras de leitor, declaro em alto e bom som: Vila-Matas é um escritor frouxo para leitores frouxos. Assim como grande parte da literatura de Bolaño é pura esculhambação à literatura, não chegando nem aos pés de várias coisas que Garcia Marquéz, Vargas Llosa e Cortázar escreveram. Vamos pegar o Mal de Montano, aquelas 300 páginas que fala... fala do quê, mesmo?... de absolutamente NADA. Resumo de O Mal de Montano: (tento lembrar, pois os 3 meses que me separam da leitura já quase a apagou por completo) um narrador, que é escritor, sofre de uma doença que é a compulsão para os livros, o anulando por completo para qualquer outro assunto humano, e daí vai; a narrativa passa por clínica freudiana que tenta desbaratar o leitor do que está lendo, passa a diário de viagem, para, então, acabar. Lê-se o livro, e do livro nada sobra na memória. Estamos mal com os escritores ibéricos. Gonçalo Tavares também é um chute no saco. Para quem gosta de arquiteturas, desde que não seja exigente. A literatura atual emula da pior forma aquelas escolas de início do século passado que já passam de mortas: a morte do personagem, do enredo, de sentido. Pensam estar à altura de Kafka ou Joyce, e só são a mais descartável das literaturas. Seus livros só sobrevivem por transverterem o ditado popular e venderem pelas capas. Eu mesmo comprei Vila-Matas pelas belas capas da Cosacnaify. E eu confessei ter gostado de Dublinesca? Pois bem, desenvolve-se uma certa relação de consideração sentimental ao primeiro livro. Esse foi meu primeiro Vila-Matas, e me deixei levar pelo bloomsday, por aquelas reflexões sobre a Galáxia de Gutemberg sendo suplantada pela Galáxia do Google, os amigos exóticos do herói, sua recaída alcoólica num bar da Irlanda, seus conflitos com a esposa. Nada que corresponda aos livros que sempre me ficarão na memória; nada como O Leilão do Lote 49, Ratos e Homens, ou Ninguém Escreve ao Coronel.
Alguma análise freudiana desvendaria o objeto oculto por detrás de Vila-Matas, seu recalque por não ser um ensaísta ou crítico, e ter se aventurado na seara do romance. Vila-Matas está no meio termo de um fracassado seguidor de Harold Bloom e Jorge Luis Borges. Não é nem uma coisa nem outra, mas tentou fundir essas influências fazendo trabalhar seu conteúdo erudito de (para servirmos de uma expressão cara a ele) alguém que leu todos os livros. Dessa forma, as referências veladas a Borges são grandes em seus livros, como em Bartleby vemos a menção humorada do copista Pierre Menard. Na verdade, Vila-Matas realizou sua pretensão de ser um autor cult e admirado por uma classe seleta de literatos. Lembra-me aquela cena final de Amadeus, onde um Salieri moribundo sai empurrado em sua cadeira de rodas abençoando aos alienados do hospício onde estava internado: "Bem-aventurado sejamos nós, os medíocres!". Pois é essa escola que autores como Vila-Matas pretendem fundar, a escola dos medianamente capacitados, dos que nunca teriam voz em momentos substanciais de crise política, dos que invadem a impressão de substância pelas portas dos fundos, ajudados em muito pela escassez histórica de grandes ideias, de grandes enredos, de grandes vozes. A ausência de tempos interessantes, na expressão chinesa tomada de empréstimo por Hannah Arendt, esses autores sobejam na desimportância flácida do longo momento. O que seria de Vila-Matas se tivesse tido o azar de nascer na Checoslováquia da terceira década do século passado? Se o destino tivesse-lhe lançado em mãos a chama do conteúdo legítimo? Teria a capacidade de tornar-se um Kundera? Ou sofreria a antecipação pragmatizada de seus infinitamente repetitivos personagens que abstem-se de escrever?
Mas não podemos culpar Vila-Matas de ser uma fraude. É um escritor de talento, um manejador de certo poder da capacidade mercadológica da frase, e, o que é objeto de intensa procura minha em seus textos e, vez ou outra, sinto ter apreendido: detentor de uma fina auto-consciência irônica da flacidez acomodada desse inglório início de século. Vila-Matas encorpora, com competência, a liderança inspiradora a um sem número de pessoas sequiosas para ganhar a vida com o intelecto e que são suas cópias de bom nascimento e vaidades estéticas, aqueles que procedem de bons colégios, de boas universidades, com títulos de altas graduações em letras, e que, cientes de serem apenas emuladores eruditos do sofrimento humano, repetem os movimentos de mãos zelosos que os reais escritores que trabalhavam com esse sofrimento faziam. Esses catedráticos sentem um profundo agradecimento por escritores famosos como Vila-Matas existirem, pois legitimam que, não podendo ser Dostoiévski, Hemingway, Saul Bellow ou Faulkner, podem se espelhar na mesma insonsidez elegantemente histriônica e não exigidora de forças desses metalinguísticos. Que boa sorte a única capacitação para ser um Vila-Matas é ter lido todos os livros!
O que falta a esses metalinguísticos é uma noção mais aprofundada da história, para terem base de fundamentação da fé em que esses tempos de marasmo e boçalidade não venham a ser interrompidos por nenhuma conflagração de crises econômicas e embates internacionais, por fome e supressão das leis, por desestabilidade das crenças idiossincráticas do que sejam os valores da humanidade hoje. Pois quando essa flacidez é interrompida, tais pensadores de gabinete costumam ser severamente esquecidos nos desvãos dessa história, os Robbe-Grillet são tragados pela chama e o único personagem com uma certa lucidez justificável nos romances de Vila-Matas acaba sendo o Juan do Bartleby, que afirmava que o último escritor que tinha algo a dizer era Musil.
Agora me resta esperar que eu recobra a razão e volte a ler Bartleby com agradecimento.
(Isso é que dá ler Tolstói durante 4 meses, e estar-se a ler Proust.)
Mas não podemos culpar Vila-Matas de ser uma fraude. É um escritor de talento, um manejador de certo poder da capacidade mercadológica da frase, e, o que é objeto de intensa procura minha em seus textos e, vez ou outra, sinto ter apreendido: detentor de uma fina auto-consciência irônica da flacidez acomodada desse inglório início de século. Vila-Matas encorpora, com competência, a liderança inspiradora a um sem número de pessoas sequiosas para ganhar a vida com o intelecto e que são suas cópias de bom nascimento e vaidades estéticas, aqueles que procedem de bons colégios, de boas universidades, com títulos de altas graduações em letras, e que, cientes de serem apenas emuladores eruditos do sofrimento humano, repetem os movimentos de mãos zelosos que os reais escritores que trabalhavam com esse sofrimento faziam. Esses catedráticos sentem um profundo agradecimento por escritores famosos como Vila-Matas existirem, pois legitimam que, não podendo ser Dostoiévski, Hemingway, Saul Bellow ou Faulkner, podem se espelhar na mesma insonsidez elegantemente histriônica e não exigidora de forças desses metalinguísticos. Que boa sorte a única capacitação para ser um Vila-Matas é ter lido todos os livros!
O que falta a esses metalinguísticos é uma noção mais aprofundada da história, para terem base de fundamentação da fé em que esses tempos de marasmo e boçalidade não venham a ser interrompidos por nenhuma conflagração de crises econômicas e embates internacionais, por fome e supressão das leis, por desestabilidade das crenças idiossincráticas do que sejam os valores da humanidade hoje. Pois quando essa flacidez é interrompida, tais pensadores de gabinete costumam ser severamente esquecidos nos desvãos dessa história, os Robbe-Grillet são tragados pela chama e o único personagem com uma certa lucidez justificável nos romances de Vila-Matas acaba sendo o Juan do Bartleby, que afirmava que o último escritor que tinha algo a dizer era Musil.
Agora me resta esperar que eu recobra a razão e volte a ler Bartleby com agradecimento.
(Isso é que dá ler Tolstói durante 4 meses, e estar-se a ler Proust.)
Assinar:
Postagens (Atom)
.jpg)
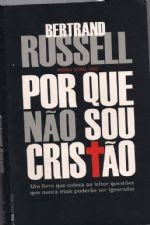
.jpg)





