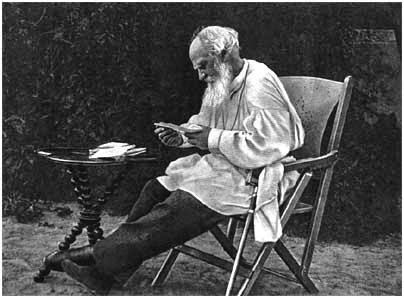Já pensou se todos os delírios do brasileiro médio se tornassem realidade?; um país em que acontecesse, ao mesmo tempo, do governo mais capitalista da sua história ter feito uma revolução comunista bolivariana; em que os estados do sul e São Paulo decretassem independência e terem, assim, se transformados não nos óbvios Paraguais que seriam seus destinos, mas em Suécias confortáveis e subitamente de altos padrões culturais e financeiros; em que o mundo dobrasse os joelhos e confirmasse que Olavo de Carvalho não só é o maior pensador da atualidade, como é o maior depois de Sócrates; em que os Alexandres Frotas, as Joices Hasselnãoseidasquantas, os artistas ex-globais falidos e sem fama, os playboyzinhos neoliberais que querem viver das custas do estado, os youtubers, etc, assumissem todos o poder e se revelassem não os parvos mercenários com medo do desemprego que são, mas gênios econômicos que provassem a todos, através de uma riqueza generalizada, que a venda da nação era mesmo o melhor a ser feito; em que um fascista era eleito e se vestisse de Rambo e saneasse todo o país com ações pirotécnicas de altíssimo risco mas afiadamente eficientes, matando bandidos, explodindo favelas, empalando políticos corruptos na praça do Congresso, tudo antes do churrasco de comemoração cossaca cristã feita pelos seus nobres seguidores com fogueiras a céu aberto, e tudo com trilha sonora adrenérgica e filmada em tempo real para de quebra promover o excelente cinema nacional; em que, além disso tudo, houvesse um sistema político em que seus personagens não fossem primeiras damas inexpressivas que caíssem em lagos para salvar cachorrinhos, nem mandatários e chefões da políticas afundados em uma cafonice e breguice sem igual, mas príncipes e princesas e duques de uma realeza finíssima e elegante. Pena que todo esse sonho esquizofrênico tão lindo seria imediatamente destruído, escoado para o abismo, visto que o planeta teria se tornado achatado pois o delírio atenderia também aqueles brasileiros que acreditam que a Terra é plana.
quarta-feira, 9 de maio de 2018
domingo, 1 de abril de 2018
Azulejos
Não tenho a inteligência funcional que fez ricos alguns integrantes da minha família. Sou um completo estúpido em relações publicas, a ponto de não transmitir muito entusiasmo no cumprimento aos vizinhos. Não sei parar de frente ao portão e ficar alguns minutos na troca de conversa funcional cujo propósito não é o conteúdo do que se diz em si, mas o som da fala preenchendo um tempo contábil de cordialidade para que no natal se tenha o nome lembrado na oração junto à mesa da ceia, ou para ser avisado para prender o cachorro e recolher as crianças no quarto porque um ouriço-cacheiro fora visto passando pela rua, ou para dar o número do telefone à moça de voz anasalada do crediário e ela possa ouvir pelo outro lado que somos gente de boa índole e polidos de qualquer extravagância, nunca tendo sido flagrados andando ao lado do muro olhando os pássaros ou contando as nuvens, ou parando no meio dos gestos marciais vespertinos para falarmos em como Albenondes fez mal em não levar Lucinda para um passeio na carruagem do conde de Wallenberg; enfim tão normais quanto esse homem dócil que certo dia a polícia resolve cavar a terra dos fundos de sua casa e encontra enterrados 37 cadáveres de mulheres que outrora todas tinham os cabelos curtos, na faixa de 27 anos, ascensoristas por temperamento e adeptas do uso de maquiagem facial indelével. Nunca ficarei rico por esses meios e tampouco me elegerei para a Câmara Municipal.
_________________________
A impressão de que estava ficando louco me tomava conta quando era mais jovem. Era algo perturbador: eu achava que fosse implodir e uma apreensão da verdade não permitiria mais que eu continuasse vivo. Aos 17 tive uma crise. Dizem que a coisa não vem de uma vez, mas vai se criando. De súbito o tecido estendido ao máximo se parte e tudo nos cai em cima. O cérebro não apaga a coisa com a tarja de Censurado por Questões de Sanidade, como faz com acidentes físicos ( minha mãe nunca se lembra das 17 horas entre o traumatismo craniano e a primeira fase da recuperação); é como se o cérebro quisesse um porta-retrato de sua maturação radical por inteiro, e o cérebro é o cérebro fazer o quê. Estava sentado no banco de uma praça, à noite, o avião que estacionaram no lugar da fonte, em memória a um general esquecido ou a alguma virtude de derrota de guerra, pressagiando a vertigem das superposições significativas, e me veio uma imensa lucidez, um instante em que todos os ornamentos sumiram e só ficara eu e um infinito vazio contra o qual não se erguia nada, dentro do qual nenhuma sombra ou luz se enunciava, uma espécie de plenipotência do átomo que não se deixava questionar ou transcender. Uma iluminação do avesso de que eu era matéria orgânica perecível, e só. Durou, creio, uns cinco minutos, mais eu não aguentaria. Quando foi embora o foi por inteiro, um ruflar de asas em que não sobrara uma pena para mostrar como prova. Só a marca em baixo relevo da lembrança, como a impressão que a radiação desenha no chão, contornando a forma do corpo evaporado.
______________________
Conheci depois uma moça que viveu 7 meses nesse inferno. Era amarrada na cama pelos pais, nos primeiros meses, e monitorada sem trégua obedecendo-se a regra severa de não se deixar nenhum objeto perfurante por perto, nenhum cadarço, comprimidos, trancando-a durante o dia e se sentando ao lado da cama à noite, ouvindo seu respirar de animal ferrenhamente obcecado pela fuga, seus olhos atentos que apareciam vagarosamente no escuro por sobre o travesseiro, solenemente planejadores. Os pais não aceitavam visitas; a casa, naquele descuido em que se deixa levar pelo desvelo, foi ficando cheia de sombras e silêncio, de forma que as pessoas de fora se questionavam se isso não agravava a situação da enferma, mas os pais sabiam que a depressão dela atingira um nível de auto-gerência tão profundo, que aspectos de fora não lhe significavam nada. Era uma colega de faculdade e uma noite os pais permitiram que nós entrássemos para vê-la, talvez isso lhe fizesse bem, ver os antigos amigos. Era uma moça realmente linda, com traços exóticos indianos, apesar de não ter nenhum ascendente oriental conhecido. Eu brincara cortejá-la certa vez, mas tornamo-nos mesmo era amigos. Ela estava de camisola, sentada atravessada na cama, com as costas apoiadas contra a parede. Tinha um ar coloquial demais para ser alvo de um experimento psicológico, de maneiras que caímos na leviandade de que nosso humor despudorado conseguiria fazer o que os médico falharam. Ela não era receptiva a nenhuma de nossas brincadeiras, estava além de qualquer contato, não se zangava e não tinha auto-crítica. Utilizando o espaço da fala destinado aos atos sociais de como vai e como foi o seu dia, nos comunicou que iria cortar os pulsos. Isso para ela não tinha nenhuma importância. Ela se recuperou. Casou-se com um fazendeiro. Tem hoje, o que se chama de uma vida normal. Na verdade me pareceu que ela nunca se curara, mas atingira um estágio adaptativo de encenação persistente mas pouco talentoso. Percebia-se a tendência de seus olhos para a dispersão. Seu marido era obtuso o suficiente para achar que uma mulher colada à megalomania financeira era assim mesmo, uma boneca de carne da qual não é cavalheiresco exigir participação efetiva na realidade. Como naquele pesadelo em que o sonhador vai saindo de um quarto para outros infinitos quartos exteriores até chegar ao último que lhe possibilitará acordar incólume, ela parecia ter sido desperta antes de completada a jornada, e ficado confinada numa zona intermediária para sempre.
_______________________________
A foto mais memorável de Robert Capa, entre as tantas que fez em sua incursão com John Steinbeck à União Soviética, foi apreendida pelos guardas do partido. Mostrava a menina louca de menos de 8 anos que morava sozinha nos escombros de uma rua bombardeada. Acostumara-se a viver como um animal, e em determinadas horas podia ser vista saindo do meio das lajes destruídas, com seu único vestido esfarrapado, seus pés descalços imundos, para pegar o pouco de comida que as pessoas sacrificavam de seus já minguados orçamentos para alimentá-la. Na verdade não era fácil vê-la. Mas a câmera paciente de Capa conseguiu flagrá-la em sua pressa arredia, em suas feições consonantais. A foto se perdeu para sempre. Consigo imaginar seus prováveis ângulos, a luz na qual foi tirada, a plasticidade do cenário em preto-e-branco ao fundo, mas nunca consegui imaginar a menina. Quando tento, me vem apenas os modelos de Sebastião Salgado, ou uma criança feliz, com ambos os pais, selecionada num teste de estúdio. Uma representação de uma grandiosidade dramática falsa e previsível que sei que ela jamais teve.
segunda-feira, 19 de março de 2018
Um desabafo
Minha esposa teve duas paradas cardíacas quando estava grávida de nossa primeira filha, a Júlia. A Dani sempre foi muito saudável, mas desenvolveu uma doença grave na válvula mitral, que só se manifesta na gravidez, e os médicos disseram que as chances dela e de nossa filha chegarem vivas no final eram poucas. Fomos em vários médicos e todos nos falaram isso. A junta médica para conseguir minha dispensa de acompanhamento_ que eu achava que me trataria com extrema burocracia e me concederia uma semana apenas_, ficou tão espantada com a situação que me deu 3 meses, o que me pareceu um prognóstico ainda mais soturno.
Recordo como se fosse agora_ e isso faz quase oito anos_, minha irmã e eu comprando o primeiro vestidinho, uma peça linda, azul, para a Júlia vestir_ lembro do sorriso compungido e do silêncio de nós dois. Recordo dos movimentos na barriga; nós passávamos Mozart para ela ouvir. Uma vez a Júlia deu um chute tão grande durante um exame, que o cardiologista deu um pulo com a mão na barriga da Dani. Eu nunca fui um homem de fé. Sempre fui de um pessimismo prostrante. Minha primeira reação a tudo é o escape. Mas eu nunca, nem sequer por um segundo_ e isso é a coisa mais verdadeira da minha vida_, eu tive nem a sombra de dúvida que a Júlia não ia nascer e de que a Dani não estaria lá para recebê-la nos braços.
A Dani passou por tanta coisa, tomou uma batelada de remédios devastadores, que havia a chance bastante real de que a Júlia nascesse com algum problema. A Dani ficou magérrima durante a gravidez, com as maçãs do rosto salientes, por causa de um diurético que ela tomava todos os dias para suavizar o coração (um amigo me confessou depois que, ao vê-la, perdera toda a esperança). A Júlia podia ter nascido na forma de um rabanete que eu a amaria acima de todas as coisas. Podia ter nascido com o problema que fosse, mental, teratogênico, que eu a amaria com toda minha alma. E eu sequer pensava nisso, sequer dediquei uma pestana em me preocupar com isso. Pelo tanto de anos que me resta viver, essa temporada de angústia foi o mais próximo de um sentimento religioso profundo que eu tive, o mais próximo a uma descansada e paradoxal fé que eu tive de que um deus agiria em meu favor. Qualquer coisa que ele nos entregasse seria maravilhoso e eu estaria profundamente agradecido.
No dia do parto eu só não aguentei esperar no hospital. Eu pedi licença a toda família e saí, fui passear em um parque vizinho majestoso. Eu iria desmaiar se ficasse ali, o que seria ainda pior para todos. Fiquei sentado em um banco diante um riacho, calmamente olhando à distância uma moça lendo um livro, em uma sexta-feira em que o mundo continuava girando em absoluta indiferença. Ouvi uma buzina, me virei e vi a obstetra me gritando do carro: "O papai fujão não vai lá pegar a filha no colo não? Deu tudo certo". Eu saí correndo, chorando muito, até o hospital, e vi pela primeira vez a Júlia. Ela era minúscula, quase cabia na palma da minha mão, era sequinha, frágil a ponto que parecia ir se desmanchar, de tal modo que eu tive muito receio de machucá-la ao pegá-la no colo. A sensação que eu tive ao vê-la envolta em uma manta, deitada de lado no berço do berçário, com um filete de vômito escorrendo pela boca, foi_e eu jamais vou deixar de parecer piegas ao tentar verbalizar essa impossibilidade_ como se eu estivesse tocando o sol: eu estava diante um mistério extraordinário do cosmos, um vulcão em erupção, um buraco negro, um tufão. Uma criaturinha cujo tornozelo tinha a espessura de meu mindinho, e era um milagre cromossômico devastador.
A Dani passou por duas cirurgias, abriram-lhe o tórax, e ela está curada. Tanto que nos permitiram ter um segundo filho. Eu brinco dizendo à Dani que a Júlia é minha alma gêmea. A Júlia cresceu, dá sinais de que vai ser uma moça bastante alta. Ela tem uma inteligência apurada, um gosto estético recolhido, uma curiosidade e uma paixão pela vida que me deixa continuamente deslumbrado. Mas foi o bebê mais magro e minúsculo que eu já vi, e esteve ali no prisma das deficiências e dos resultados da falta de oxigenação cerebral suficientes para que fosse uma criança excepcional_ o que teria transformado o meu amor e o da Dani em um amor também excepcional, nem maior e nem menor do que nosso amor de hoje, mas um amor especial (muito provavelmente ainda mais intenso).
E por que escrevi todo esse relato? Porque assisti ao Fantástico a matéria sobre a morte da Marielle e do seu motorista, Anderson. Porque li as opiniões que uma desembargadora veio repetindo insistentemente sobre sua cruel e insípida visão de mundo. A desembargadora, além de todos os absurdos que disse sobre a morte da Marielle, escreveu desmerecendo uma professora com Síndrome de Down. E aí eu vejo, na matéria que o Fantástico fez sobre o Anderson, que o filho dele nasceu com problemas, com algum tipo de má formação (isso foi anunciado na reportagem). Eu estava sozinho na sala e fui acometido por uma crise de choro, que foi o estopim de desabafo a tudo isso que vem acontecendo no país, ao ver a foto do Anderson ao lado de seu filho, um bebezinho minúsculo (assim como a Júlia ao nascer). E a desembargadora, em cima de sua vida de privilégios que no final são vantagens medíocres, em cima de sua paupérrima e lamentável impressão de superioridade, com sua cara plasticiada que depende de exercícios de auto-aceitação que só ela deve saber o quanto são inglórios, botoxiada nas tentativas falhas de esconder o galope avançado e inevitável da idade, vem despejar insistentemente sua deformação interior. Por isso tudo, minha explosão de choro e meu desabafo diante a foto do Anderson e seu filho: o amor na cara do pai, a alegria inocente e plena na cara do bebê_ o sol ali, o buraco negro, o tufão, a imensa, irrefreável e invencível manifestação da Lei.
sábado, 3 de março de 2018
Justificativas
A vizinha, mãe de dois meninos, abandonados pelo pai, que se mudou semana passada para a casa ao lado, gritando com os filhos: "Não mexe em lixo do quintal não, suas pestes! Já não basta que todo mundo nos ache um lixo, que todo mundo nos trata como lixo, e vocês ainda ficam brincando com lixo!"
Um senhor alto, muito velho, em pé sozinho no fundo do elevador, olhos aguados, alguns instantes depois em que responde meu cumprimento quando me adentro: "Meu maxilar se partiu e fechou o canal dos meus ouvidos. Se o senhor falou alguma coisa para mim e eu não respondi, peço que me perdoe, não estou ouvindo."
O catador de ferro-velho, de idade indefinida, cabelos e bigode tingidos de preto, que me grita um cumprimento onde nos vemos como se já tivéssemos trocado alguma palavra antes, e que eu surpreendentemente vejo andando em volta da represa empurrando em uma cadeira de rodas um menino loiro de um ano e meio. O "boa tarde" radiante que ele lança para mim, para minha esposa e meus filhos.
E o sorriso do menino loiro.
quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018
Um súbito poder
O sr. Mombertto Luccena perdera o braço
por uma besteira monumental. Em um de seus raros momentos em que se dedicava a
explicar esse restrito significado filosófico em sua vida, me disse que haveria
alguma dignidade em um maneta se a causa de sua mutilação tivesse sido um
acidente de trabalho, ou um duelo, ou uma doença degenerativa que tivesse
tornado inevitável a remoção de suas raízes patológicas. Mas não em meu caso,
Halp, dizia, já sem nenhum compadecimento, segurando o cachimbo com a mão
esquerda, justamente a que sobrara em um destro para confirmar o quanto a
providência__ ou a ausência dela_, tem inúmeros meios de trabalhar com a insensatez.
As pessoas me veem, com razão, como um homem a ser poupado; não importa quem
for, se algum de meus fornecedores com quem eu solto os cachorros e falo a
merda que quiser, ou se for uma mulher que vem à loja para comprar alguma coisa
e descobre que o proprietário não possui um quarto do corpo; todos me veem mas
imediatamente fazem o máximo possível para me removerem de seus campos visuais.
E eu não os culpo, Halp, dou total razão a eles. Eu posso ter o poder que
tiver, a influência em bolsas de valores, ser marchant de importantes gênios
das artes, ter contas na Ilha de Man ou um veleiro com as assinaturas no casco
de todos os aventureiros mundialmente conhecidos daqui até Aleksandróvski,_a desincumbência
que o destino me deu de não precisar mais levar um adendo corporal me torna
imediatamente uma nulidade completa. E ninguém gosta de zeros a esquerda, Halp,
ele dizia, soltando o bafejo de fumaça odorífica que vinha realimentando no
bojo do cachimbo através de calibrados movimentos de influxo com a boca,
fazendo uma pausa para me lançar um olhar carregado de dramaticidade, mas cujo
significado doutrinário não me era de todo compreensível.
Apesar
de tudo era um belo homem. Podia-se perder uma discussão com ele apenas por se
ficar fascinado o observando. Ele aparentava ser um desses paradoxos da
inteligência que tem completa ingenuidade sobre si mesmo. À medida que
envelhecia, seus traços ficavam mais realçados, percebia-se
que toda delicadeza que algum dia ditara o tracejo de suas linhas faciais
tornara-se inteiramente condizente com aquele enredo perverso que o destino
tinha entremeado na narrativa de sua vida. Seus fartos cabelos encaneceram-se,
a petulância francesa do nariz aquilino, que na certa fora alvo de recalques
silenciosos em vista da inutilidade de um incremento desses em um maneta, se
tornara ainda mais petulante mas agora legitimado por sua áurea de profeta
rembrantiano de uma grandiosa decadência bíblica, seus olhos que disparavam
rajadas inflamadas de ódio antes de terem se suavizado foram disciplinados por
uma astúcia comercial em que uma ironia o posicionava acima e imune a todas as
tramoias da ralé no qual ele era forçado a lhe dar todos os dias.
Era impossível alguém vê-lo e não ficar tocado de alguma maneira com a
impressão calada de que ali estava um ser de aparência majestática, cuja
degradação brutal de seu lado direito se interromper no ombro acentuava sua
imponência através do paradoxo de uma fragilidade que não era imediatamente
digerida. Muitas pessoas tornavam a olhá-lo, quando ele não estava se dando
conta, para se certificarem que não eram alvo de um engano ocular, e mesmo
depois da realidade nua e crua comprovarem o que o fato ditava sem nenhuma
dúvida, não saíam pela porta do escritório do depósito de cereais achando
que haviam logrado ou sido logradas por um aleijado. Pois era isso que M.
fazia, lograva-os dentro daquele manual particular de sobrevivência financeira
que ele nunca havia escrito (e nem o pretendia), mas que me passava algumas de
suas leis fundamentais toda vez que saíamos para trabalhar. Um homem viril que
passava a segurança de ser capaz de tudo; sereno, rígido de uma maneira que não
lhe afetava morais de escritório e éticas de farmácia; alguém que independente
do que seria necessário para um canalha autorizado pelos princípios do lucro
esquecer o que havia feito de dia para poder repousar a cabeça no travesseiro,
ele dormia como um pedra em uma paz que não precisava de nenhuma retórica
escamoteadora mas que era uma simples intervenção da natureza; havia lido muito
apesar de a impressão ser de que o trânsito atribulado de seu cotidiano não
favorecia levar um volume de Eckermann por entre sacas de milho de cem quilos e
caminhões aspergindo vapor de diesel não lhe daria a concentração adequada.
Mas seus conhecimentos eram
vastos; citava nomes e eventos históricos no meio de tramoias de comércio em
conversas com velhos industriais pançudos e friamente mal-educados, e com uma
voz inquebrantável fazia esses senhores desabrocharem impossíveis sorriso marotos
achando que se tratava de informações avançadas lhes passadas em surdina. Ele
falava com nós, seus funcionários, com uma rispidez que às vezes parecia
aristocrática da pior maneira possível, como um senhor de terras russo falaria
com seu servo mais preguiçoso, mostrando por detrás das palavras que se tinha
aquele resquício de paciência era por ali conter uma censura ainda mais severa que
não desejaríamos descobrir; mas a questão era que seus 35 empregados já
trabalhavam com ele há anos e nenhum cogitava a ideia de sair dali e, novamente
eu digo, isso não tinha a ver com seu aleijamento. Ele tinha esse magnetismo e
sabíamos_ era visível de forma imediata_ que ele era humano, que a potestade
que ele não acreditava e da qual não fora a perda de um braço que a faria ser a
espectadora de seus monólogos estoicos sobre a desgraça que era a vida, não
poderia ter errado-- era o que nós pensávamos, mesmo não tendo consciência
disso_, algo assim não poderia ter acontecido com alguém que nascera tão pronto
para o martírio da existência nessa zona intermediária entre o nada e a aposta
infundada em um paraíso, cheia de eflúvios de culpa, traumas, patologias
mentais, moléstias de caráter e depravações; a mão de um deus obscuro não havia
apontado para ele sem cálculos precisos de que a história magnânima a ser
registrada seria cortada no início por uma desistência e nem por um suicídio
parcelado em uma vida de oitenta anos, ele iria perseverar e se viraria com tal
presente da melhor forma possível.
Ele perdeu o braço em uma prova infantil. Para ganhar respeito no grupo
de machões do bairro, pulou o muro de uma usina abandonada e foi até o centro
dela, passando por janelas quebradas e por estruturas de metal arruinadas e
incompreensíveis, afim de trazer a tampa da destiladora de cana-de-açúcar e
ficou com o braço preso na grade interna. Contou-me isso com um distanciamento
desapaixonado, como se tratasse de um ritual de passagem sem muito interesse,
como se um cerimonial de núpcias ou o dia em que abriu seu comércio equivalessem
em etapas naturais ao sofrimento que aquilo representou por toda a vida para
uma criança de 12 anos. Uma vez meu avô narrara no jantar uma pueril história
sobre um burro que ele tinha em sua fazenda em Lajes, que empacara num campo de
lama que levou seu esforço e de mais dois homens para demover a besta do lugar,
e isso me impressionou pela falta de sabor em como uma história poderia ser
narrada, a ausência de tramas, a pobreza total de reviravoltas no enredo.
Quando M. falou daquele evento esquecido, que
não dava sinais de fulminá-lo na intermitente volta da lembrança da dor, me
voltou o velho burro amuado com os quatro cascos desgastados enfiados na lama,
os olhos de azeviche não focando nada mergulhados em uma lamúria incompreendida
remoendo suas íntimas filosofias de Platero, e os dois homens e meu avô
salpicados até a alma do mesmo barro cuspindo esporadicamente os grossos e
rústico pelos que se lhe enfiavam pela boca dando solavancos nas patas e
enfiando as caras no traseiro e dizendo urra, vai maldito, e parando para
esfregar o suor das testas com a mãos e olharem uns aos outros se rendendo à
exaustão além de qualquer xingamento a ponto de um pouco da tristeza do animal
lhes contaminar dolentemente o raciocínio. Com a mesma quase proposital
intenção de expressar o acontecido mas sem dar-lhe relevância maior que a
comportaria uma notificação da trivialidade mais banal. M. me contou a história
de seu braço se gangrenando à medida que as horas passavam e ele tinha a
certeza de que aqueles garotos broncos, espinhentos, com exalantes odores de
excesso de hormônios, não iriam entrar na usina para saberem o que acontecera.
Não ouviram seus gritos lá de fora, ou ouviram e não se importaram um centavo.
Eu creio que ouviram, ele disse com um acento descendente, olhando para uma
lasca do piso e batendo simpaticamente a barra da calça para tirar uma poeira
imaginária, mas eles não iriam lá pra me salvar, não fazia parte da ética do
jogo. Eram uns ignorantes que só simulavam entender de putas e cerveja e o
jeito certo de cobiçar os carros que nunca iriam ter, eram almas inaptas para a
alteridade, Halp, seres construídos em uma forja cujo princípio do artesanato
em que foram idealizados comportavam pouca massa que não fosse carne, excesso
de carne exultante, fremente, sem cultivo, programadas para a explosão e a
flacidez no tempo certo.
Não iriam voltar. Dizia, sem sentimentalismos, sem a nostalgia vingativa
ou o recalque. Como eu disse, ele não se gastava em monólogos noturnos
debatendo sobre a compreensão inacessível dos propósitos de um deus em que
jamais acreditara. Desmaiou após uma hora de dor sem nome, uma dor tão premente
e inimaginável que seu cérebro recorrera a ferramentas profundas, enterradas em
zonas inacessíveis sedimentadas por séculos de memória armazenada de outras
dores perdidas na distância dos seus mais remotos antepassados, para
traduzir-lhe o que era aquilo, para que seu espírito não implodisse porque não
há mais espaço para novos traumas, todos os traumas já foram suficientemente
explorados e utilizados, todas as dores já foram desvendadas e não há como
inventar novas dores por mais que seja prolixa a imaginação do destino futuro
dessa espécie auto imoladora que é a espécie humana, Halp, de forma que eu
apaguei, só fui acordar quando senti alguns homens mexendo com meu corpo, me
revirando, perguntando se eu ainda estava vivo. Levaram-me para o hospital
público de São Clemente, mas o braço já estava negro igual a uma peça de
charque, eu não o sentia mais, havia partido em três lugares e a carne macerada
em feridas que ficaram tanto tempo privadas de sangue que estavam em um
vermelho pastoso e artificial, como se houvessem pintado e aquilo não fosse
admissível na realidade. Amputaram-lhe na altura do ombro e a história tinha terminado,
era isso. Aos 12 anos e sem um braço a tarefa não seria nada fácil. Meu pai era
carregador de caixas em uma cooperativa do centro, minha mãe cuidava de mim e
de meus três irmãos mais novos e às vezes cozinhava em um restaurante polonês
que havia no bairro, e eu, predeterminado por essa rígida hierarquia social não
tinha um destino melhor pela frente a não ser fazer parte dos honestos e viris
trabalhadores braçais, que sustentavam literalmente o peso do que iria
preencher as mesas de almoço do país por 12 horas diárias e depois voltava para
ser recolhido em hibernação suspensiva em sua casa de dois cômodos até que o
dia eternamente renascente o iria acionar novamente em toda sua plenipotência
muscular, não sem antes de deitar passar no boteco e beber duas doses
calibradas de trigo velho. E agora o prosseguidor dessa tradição se via sem o
braço, pela razão mais estúpida de querer impressionar uns descerebrados
marcados para serem tão infelizes em suas vidas obtusas e sem sentido quanto
ele. Meu pai me olhava com descrédito; suas instâncias de frustração estoica
que muitas vezes cambiavam para uma ira violenta não sabiam o que fazer com
aquele ornamento rescendido de peso inútil que substituíra seu saudável filho
na mesa de jantar; faltavam-lhe as palavras brutalizadas que usava com todos,
os xingamentos, as ferramentas virtuosas de machucar que eram seus verbos bem
pronunciados e escarrados pela moldura de seu rosto distorcido muito vermelho.
Eu o observava pelo canto dos olhos, parado ali imóvel na entrada da cozinha, a
boca semiaberta estupefata, reavaliando sua reação e não de todo excluindo a
suspeita de que aquilo poderia ser uma peça que a vida lhe pregava, uma espécie
de piada sofisticada demais para entender e que não tinha a mínima graça. Meus
dois irmãos juntavam lixo e mandava para as caminhonetas de reciclagem
particulares, e minha irmã era ainda nova demais para participar de alguma
forma de rotina pragmática que não fosse ficar quieta e deixar minha mãe com
suas panelas no fogão, e eu me transformara do dia para a noite em um objeto
ornamental não desejado. Isso me revoltava, me fazia ter crises compulsivas de
choro, M. me disse, sorrindo e soltando um muxoxo ríspido e curto contra alguma
rearrumação que por força da distração não se fazia conforme seu desejo em sua
mesa de escritório, o que eu não sei se esses movimentos esparsos faziam parte
de uma encenação muito convincente de que pouco estivesse aí para o que contava
ou se ele era mesmo insolvível a isso tudo, se o ele conseguira mesmo uma
privilegiada posição acima da estúpida degradação do tempo. Eu saía para chorar
nas escadas do bloco de apartamentos paupérrimo em que morávamos, com muito
medo de ser visto, aliás eu passei a ter uma vergonha colossal de que me vissem
em qualquer variação de humor, o aleijado, o maneta, o perdedor oficializado
sobre o qual já não havia apostas nem que fosse um médio auxiliar de
carregamento de cargas suficientemente pouco preguiçoso. Eu fugia de todo
mundo, dava a volta pelo quarteirão, a cabeça só não mais baixa porque se
sucumbisse à minha humilhação o corpo emborcava para o lado em que lhe faltava
aquela porção valiosa. Mas daí me dei conta de algo espantoso, verdadeiramente
revolucionário na minha vida: eu fazia de tudo para que não me vissem e as pessoas,
ao final das contas, não me viam! De uma hora pra outra, eu passei
a ser invisível. Não precisaria me esforçar tanto quanto eu fazia: meu objetivo
era alcançado mesmo se eu ficasse estacado em meu canto, apenas observando. Uma
vez, no auge da minha aflição por não ser visto, me flagraram chorando sentado
nos degraus do porão. Era o porteiro e uma faxineira que passavam por ali não
sei atrás de quais arranjos, e, quando se depararam comigo, simplesmente
seguiram em frente em seus afazeres, pegando o balde e o esfregão, e se
mandaram, apenas desviando-se de mim e fazendo com os olhos uma constatação da
minha ocupação física do espaço, uma espécie de cumprimento resquicial, sem dó,
sem acusações, sem constrangimento. Antes, quando meu corpo se compunha de todo
o porcentual lhe concedido legitimamente pela biologia, havia momentos em que
zombavam de meu modo de andar, de meu modo de falar, de minha extrema magreza,
mas agora, que tinham o que encarniçar, eles não o faziam. Com o tempo fui
alteando o porte, na medida em que me certificava do potencial desse meu súbito
poder, e passei a ser realmente feliz com essa minha condição.
terça-feira, 20 de fevereiro de 2018
Assistindo Godot
Minha filha Júlia tem 7 anos. Nesse final de semana nós dois lemos e encenamos "Esperando Godot". Foi uma experiência maravilhosa nas nossas vidas. Enquanto chovia lá fora, por puro acaso e com espírito da mais risonha brincadeira, nós dois nos trancamos na biblioteca e eu encarnei Vladimir e ela Estragon. Ela esperava, eufórica e com os olhos cheios de sapequice, que eu chegasse logo a partes como as que Estragon olha dentro de sua bota, ou faz pirraça e finge que não ouve o que Vladimir lhe pergunta, ou pega os nabos em vez da cenoura, e, quando isso acontecia, ela saía correndo pela biblioteca fazendo todos os gestos que eu lia em voz alta. Como eu sabia que o longo monólogo de Lucky poderia ser bem difícil para ela, eu pedi que ela fizesse também o papel de Pozzo, e eu de Lucky. Eu lhe disse que havia um filme da peça, e ela ficava me pedindo que eu o achasse nos hds, insistentemente. Acaba que não encontrei, e fomos à casa de um amigo e ele gravou para nós. Ontem assistimos o filme. Que atores extraordinários! Por uma hora e quinze minutos ficamos os dois em estado de êxtase, mudos (ela tão entregue ao filme que dava pequenos pulinhos deitada no meu braço). Acabamos de madrugada e minha surpresa foi enorme ao ver que o filme consta com um "ato 2", em que a história toda é reencenada com algumas liberdades (como a de que o menino que aparece no final, dessa vez, é cego!). O Eric dormia emitindo um leve roquinho no meu outro braço, os dois amontoados em mim enquanto a Dani dormia no quarto. Antes de dormirmos_ a Júlia fazendo cara feia porque queria assistir o resto do ato 2_, eu perguntei a ela o que ela entendera sobre quem era o menino (o menino que surge para mandar o recado aos dois mendigos de que Godot só viria no dia seguinte), e a Júlia me disse que ele era um pastor de ovelhas da Bíblia. Fique deliciado e lhe perguntei se, talvez, o menino poderia ser Jesus. Ela ficou um longo instante pensando e respondeu, depois que lhe dei o beijo de boa noite, que ela ainda continuava achando que o menino era um pastor de ovelhas bíblico. Tenho certeza que nós dois demoramos a dormir, um pensando no que o outro disse. A primeira coisa que ela me diz hoje, ao acordar, é se poderíamos assistir todo o filme de novo.
sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018
A porta aberta da casa
A vovó Flora não tinha empenho nenhum na mesa na hora do café da manhã. Passou algum tempo depois que eu cheguei e a coisa ia desse jeito.
Como algo que eu tenho que reconhecer pelo esforço tão acima de suas forças, ela mudou_ impôs-se uma mudança. Sua filha Helena, minha mãe, era uma moça loira que sumiu uma bela tarde em que tinha alguns anos mais do que eu tinha na época, e só voltara quando a textura juvenil de sua pele havia se transformado em um estudo criminal de sua degradação. Com isso, causara o sério problema para a vovó dela também ter que encarar a verdade de sua total incompetência na vida adulta. Pela medição que minha avó fez enquanto arrumava pela primeira vez em uma década o quarto do segundo andar para que nós ficássemos pelos seus prometidos apenas três dias, a menina, que já deveria ter 25 anos, não estava gorda. Era um ponto pra ela. Seu corpo adivinhava a escultura que tinha sido antes de ficar grávida, pois ainda era bem apresentável, sem culotes saindo pra fora da calcinha, os pequenos seios bem firmes sem qualquer artifício suspensório de sutiãs e enchimentos, as pernas lisas como as da garota que havia abandonado a casa. Mas o rosto entregava tudo. O rosto de minha mãe se tornara deplorável. A gravidade agira nele sem a mínima ponderação. Pelo penúltimo dia da estadia de Helena no quarto, minha avó disse isso a ela; não poderia ser só a ação de surras eventuais sofridas nas relações subjugadas com os alcoólatras e arruaceiros; talvez fosse uma doença, uma velhice precoce. Minha avó lhe informara, demonstrando esse tipo de interesse sagrado que as pessoas sem instrução tem pela ciência popular, com a mesma credibilidade com que se aceita como verdade o chupa-cabras e a invasão alienígena exponencial e silenciosa do planeta, que o pai da minha mãe talvez tivesse essa doença, que isso só podia ser genético e não vindo dela, já que ela, se não tinha o despudor de se achar bonita aos 68 anos, pelo menos suas rugas e sua tonicidade de pele correspondiam com precisão a cada um dos seus anos.
Minha mãe não se importava uma migalha com seu rosto. Tinha uma distante lembrança do pai, um homem de olhos verdes que pelo fato de ter tido a honradez de assumir sua decisão de nunca mais voltar, nem para atazanar a vida delas, merecia o respeito de ambas. Talvez nem fosse isso. Talvez fosse um mero exagero da minha avó em tentar aliviar ali a decepção por vê-la de volta quando já a dava por morta, e ir suspeitando do esquema que minha mãe armava pra cima dela sobre ter que me criar por uns tempos, pois não tinha condições, estava na penúria, se morresse com quem ficaria o pobre diabo. Minha mãe não estava assim tão velha, ainda que muitas vezes eu presenciei os homens buzinando ao verem-na por trás e gritando xingamentos alcoolizados e alegremente selvagens quando se viravam nos volantes e a viam de frente. "Vá fazer uma plástica, traveca!". Helena acendia um cigarro, puxava a fumaça, cansada e acostumada com a eterna avidez daquela fome que nunca terminava, as unhas pintadas descascando-se e a velha pulseirinha de couro com cheiro de escama grossa de pé, a dignidade de todo fumante em o tempo lhe respeitar o ato de fumar, nem sequer se preocupando em ouvir minha vovó, sua cabeça estando muito longe, uma mulher madura, dona de si, havia perdido há muito a capacidade de se zangar com as coisas triviais. Se precisasse beijar a vovó ela beijaria, se precisasse lhe pedir desculpas por seja o que fosse, pelo desaparecimento ou pelo reaparecimento, ela pediria, se precisasse olha-lá nos olhos e corresponder a cada ofensa que ela lhe pretendesse jogar em cima, desde a sua feiura ao seu fracasso amplo e descomedido, ela o faria. Era uma espécie de economia espiritual, a vida estava além disso; a vida era triste e dura e não colaborava com nada, mas estava mais elevada do que esse nível rasteiro de besteiras irrisórias. Minha avó a olhava, apertava a boca e fazia um leve muxoxo, estendendo o lençol e o batendo no ar para a poeira cair e as pequenas exsudações do corpo evaporarem, e mudava de assunto, se rendia. Sentia um certo orgulho por sua filha ser assim; isso vinha dela, ela também era assim, fácil de lidar, sem preconceitos e sem superstições, apenas que a velhice traz esses vícios e a gente só percebe que deve se exorcizar deles quando vê que está os colocando em prática.
Por isso vovó emprestou algum dinheiro para minha mãe ir resolver aquela parada na capital e aceitara ficar comigo por uns tempos. Não havia parada, a vovó sabia. Poderia ser um aborto, apesar do que a barriga tanquinho de minha mãe teria sido fácil de detectar. Poderia ser uma dívida com o ex-namorado que a estava ameaçando. Minha avó não quis saber e minha mãe não quis explicar, nem tocaram no assunto. Ela só disse à minha avó que precisava da grana, não pediu e não usou de subterfúgios. Agora estávamos há meses apenas nós dois e o Capitão Bombo, e nenhum de nós nunca voltou a falar de Helena. Era a família das despedidas impronunciadas sem prazo de duração; a família da época em uma idade da infância em que a maturidade compulsória se mostra com a porta aberta da casa, ir sem olhar para trás; dos adeuses sem ressentimentos, sem dó nem lamúrias, como a família dos lagartos em que a mamãe lagarta bota seus ovos em um buraco no meio das britas ou no lixo e não liga a mínima para o que vai acontecer em seguida, deixa que o relógio da evolução siga seu lento curso milenar com suas altas cifras de rejeição natural e fracasso.
Minha avó durante os meus primeiros meses ali nunca acordava antes das 10. Os dias de trabalho dos dois_ dela e do Capitão Bombo_, exigiam muito, eu não os via senão quando a tarde caía e o ruído da casa vazia e do fluxo de carros da avenida em frente formavam uma nebulosa sonora indistinta, programada a se romper com a porta sendo aberta e os dois velhos entrando cansados e satisfeitos, com sacolas e a bolsa da vovó acrescida de peso produtivo que eles lançavam sem muita cerimônia por cima da mesa da sala. Eles entravam com o Fiat Uno cinza na garagem, sempre dirigido pela minha avó, que ia de queixo colado no volante e o banco puxado ao máximo para a frente, nunca olhando para os lados e usando os espelhos retrovisores com uma espécie de prestidigitação premonitória que contava mais com o bom-senso dos outros motoristas em não se aproximarem do que da necessidade da vovó de deslocar o pescoço da imutável posição retilínea a fim de ver a concorrência nas vias públicas, o velho Fiat amassado dos lados e de pneus sem calotas mostrando o metal calcinado das rodas. Minha avó parava o carro na contramão, o motor ligado, e da porta do passageiro saia o Capitão Bombo, com uma vagareza ritualística que lembrava o palhaço do circo do fusca que se parte ao meio em uma labareda de fumaça, indiferente aos contratempos e o menos serviçal possível às atualizações da tecnologia, a barba cinza batendo-lhe no peito, o chapéu de praia deixando entrever o rosto afundado nas duas faces pela ausência dos molares, a calça caqui de brim comprada no brechó e a camisa verde escura e desbotada aberta até o quarto botão para combater o calor; ele se aprumava sem parar o trote e ia bamboleante e esperto até o portão gradeado, puxava o trinco e o abria de par a par, e com um gesto sério e divertido fazia uma vênia cavalheiresca para a vovó entrar com o carro, e assim que ela o fazia (sem lhe prestar a mínima atenção com os olhos maníacos dirigidos para a frente, talvez como prevenção para que os eventuais acidentes que amassaram as portas não se repetissem em um momento tão delicado), ele apressadamente entrava e fechava o portão, olhando para os lados com o que me parecia uma encenação dos filmes policiais assistidos nas madrugadas dos finais de semana de folga.
O Capitão Bombo tinha mais de 70 anos, mas vou tratar dele depois. Agora quero dizer de uma vez por todas sobre o maldito café-da-manhã com que comecei esse relato. Como minha avó não havia previsto a entrada de um menino de 12 anos no seu cotidiano, ela se comportava como vinha fazendo desde sempre antes da minha presença. Ela retirava o que havia de sobras da janta do dia anterior da geladeira e colocava na mesa da cozinha, cobria com um pano de prato e era isso. Eu acordava geralmente na mesma hora que eles, porque velhos fazem um barulho descomunal até que consigam endireitar a homeostase dos corpos, com pigarros, bocejos, afinamento das vozes, flatulências, etc, mas sabia que era mais prudente fingir que acordava depois de deixá-los ir para ter a casa toda para mim. Quando não havia mais som algum depois que o portão era fechado e o casquejo do Fiat sumia na distância, eu me levantava do pequeno quarto, ia mijar no banheiro, escovava os dentes, e espionava o corredor até a sala. Olhava os montes de objetos sem nome atulhando os sofá e a mesa de centro, os pratos com cascas de banana que fazia dias estavam ali, as latas de refrigerante amassadas jogadas no chão, a poeira acumulada no armarinho do canto com seu jarro de flor artificial que retinha de uma maneira triste e hipnótica um raio de sol. E o silêncio que era a única manifestação de alguma plenitude, a calma profunda e inviolável que eu não conhecia em meus anos de peripatetismo com minha mãe por apartamentos no centro e quartos em repúblicas cuja rotina eram brigas internas e externas e muita televisão ligada no último volume e muita música chorosa e áspera vinda de todos os lados. Entrava na cozinha minúscula, com uma mesa de fórmica e duas cadeiras e a geladeira de duas portas rombuda e manca, que dava um agudo quando era aberta, e via o que tinha pra comer, que era, invariavelmente, a carne de porco da noite anterior envolvida em uma névoa gelatinosa de gordura, o brócolis murcho reduzido de suas proporções naturais por um cozimento exagerado, cenouras anãs, um pedaço de bife preto, uma garrafa de leite que dava um piparote no nariz quando se chegava perto do gargalo. Mas isso não me importava_ às vezes eu limpava a carne de porco da gordura, espremia um pouco de ketchup e comia_, eu nunca acordava com fome.
Eu amava ficar na casa solitária observando o silêncio por horas. Talvez houvesse uma fome íntima, muito incrustada para ser percebida, e ela potencializasse aquela languidez, me fizesse ver coisas que só um doente e alguém à beira da morte vê. Eu nunca, conscientemente, tinha desmaiado e não poderia saber a diferença entre um sono à tarde e um desmaio. O que acontecia era que aquele silêncio aos poucos me fazia dormir; eu deitava entre as caixas e as roupas na sala, espichava os braços e pernas até o máximo e me entregava. Acho que eu me tornei magro demais e minha avó passou a perceber isso. Ela me fazia sanduíches generosos quando chegava de seus afazeres, e duas horas depois ela e o Capitão Bombo preparavam o jantar que era a única refeição importante para eles, o Capitão Bombo se dedicando às verduras e a vovó se ocupando com as carnes. Os dois não eram nada bons nisso, ou melhor, eram destituídos por inteiro de qualquer talento para a cozinha, e não sei como sobreviviam há tanto tempo a uma dieta fundamentada na gordura e na transfiguração das propriedades nutritivas dos vegetais. Mas alguma coisa a fez ter uma súbita lucidez sobre a diferença entre as necessidades de um organismo velho e de um organismo jovem, talvez ela tivesse se ocupado em ler algum artigo sobre o assunto em uma das revistas que apareciam em sua bolsa e nas sacolas que trazia, ou alguém lhe dissera sobre as obrigações legais que se tem que ter com uma criança, aquelas exigências estatais sobre saúde e educação que se confrontadas pode levar a problemas relativamente sérios com a justiça, e então, um dia, quando me levantei e dei meus passos cautelosos até a cozinha, vi que haviam pães por sobre a mesa, uma sacola cheia deles, e além disso um pote de requeijão cremoso na geladeira e um litro de leite fresquinho, e mais roscas e algumas bolachas recheadas sabor limão em uma cesta ao lado dos pães. Eu não duvidei de que aquilo tudo era para mim, mas entendi a mensagem nessa outra ponta da comunicação familiar da forma como tinha que entender, que aquilo não era carinho mas uma boa reconfiguração na busca por eficiência e facilitação que eram as leis do nosso sangue comum, a mesma coisa que estava na calma estoica e superiora de minha mãe, o mesmo desapego ao sentimentalismo.
Eu descobri depois o sacrifício de ter aqueles café da manhã para minha avó. Ela passou a acordar de madrugada, às seis da manhã_ madrugada para ela. Ela vestia seu jeans batido amassado nos fundilhos, o jeans de borracheiro muito lavado e escoriado nas pernas; vestia uma camisa de babados no fundo decote entre os lautos peitos os quais outrora haviam sido parte de seu vantajoso aparato sexual; colocava um cachecol vermelho berrante nunca lavado e de cheiro imemorial de guarda-roupa destoando por completo de qualquer noção de moda ou juventude que na certa ela não pretendia nem um pouco ter mas que talvez alguém de fora achasse ser sua intenção. Ela calçava as chinelas baixas, muito gastas e seguras, imunes a poças de água e a todos os perigos do instável relevo das ruas; apanhava sua bolsa de couro parecida com um alforje de muitos compartimentos de um caçador de grandes mamíferos africanos, e saía pela porta com seus cabelos crespos tingidos de amarelo amarfanhados como um ninho de pomba, os óculos gordurosos com lentes bi-focais a auxiliando com a maçaneta e o molho de chaves, no que ela soltava murmúrios reflexivos demonstrando seus cálculos mentais, seus pequenos desvanecimentos de atenção que a faziam voltar para pegar algo esquecido, a carteira talvez, e saía pelo portão para a assombrosa atmosfera desconhecida do amanhecer progressivo. Há quantos anos não via aquele tom de luz, aqueles nuances de sombra, não via que tipo de pessoa se entregava à labuta já nas primeiras horas da manhã, velhas paradas no ponto de ônibus da esquina com caras de que tinham um longo dia na cozinha de alguma bodega pela frente, motociclistas passando com indolentes ziguezagues entre os carros, só ainda não exercendo toda a fúria porque o sono não permitia, todo mundo esquentando as turbinas. Ela deveria ter sentido um enfado profundo por se expor a esse mundo de pessoas triviais e ditas honradas, ter se colocado entre os motoristas de táxi e as empregadas domésticas na fila para pegar o pão. Isso deve ter sido demais para sua capacidade de abstrair-se da realidade.
O fato é que ela, uma semana depois que as coisas mudaram, me informou na mesa de jantar que teria que achar uma escola para mim. Ela falava um tom mais baixo sempre que se dirigia a mim, como seu eu fosse uma peça de um protocolo ainda não estudado, conservado à parte, reavaliando algum subproduto de sua imaginação de como seria uma avó ajustada em suas estimativas sem ser ridículo. O Capitão Bombo, que picava um tomate assado semelhante a uma grande bunda de formiga enegrecida, sorriu e me olhou rapidamente; eu devolvi o olhar à procura de significados, se ele estava zombando de mim, se achava a situação fantástica demais eu sentado em um banco de frente ao quadro, mas era apenas um sorriso, sem nenhuma consequência. Eu estava disposto a cair na chacota com ele, mas era apenas um sorriso.
No outro dia, uma segunda-feira empoeirada e aparentando ter mais horas do que o permitido, a vovó acordou às seis horas e foi comprar o pão. Eu me levantei e fiz minhas abluções antes que o Capitão Bombo começasse com seus concentrados aquecimentos corporais, e me sentei numa área do sofá desocupada, afastando para o lado uma echarpe azul piscina. Era o último dia em que eu ficaria no silêncio orbicular da casa e eu tentava aproveitar, pegar algumas informações extras, mas só senti uma nostalgia antecipada de uma fase da vida ficando para trás. Olhei a flor de pano e o mesmo raio de sol começando a se intensificar por sobre ela, e senti uma vontade imensa de ter direito a apenas aquele dia a mais entre aqueles objetos órfãos eles mesmos de tudo que vicejava e competia entre si lá fora. A luz por sobre a flor descia lenta mas decididamente, ciente de que cumpria uma lei cósmica, e ia aos poucos se equilibrando até achar a mesma configuração modular de todos os dias, e ficaria como uma redoma por sobre aquele triste a manchado pedaço de pano que a vovó devia ter comprado ainda na época em que minha mãe morava com ela, até que, vencido as horas estipuladas, começaria a desvanecer com a mesma delicadeza, retornando para seu limbo no meio da escuridão, tudo na mais perfeita e inviolável ordem, sem labutas, sem gritarias, livre das obrigações do charme, da beleza e da vida. Eu queria que a vovó me concedesse a permissão de pelo menos aquele dia eu poder me deitar entre a bagunça dos panos e dos pratos sujos e dormir em uma paz opiácea e feliz.
Mas aí o Capitão Bombo já se arrastava pelo corredor, me lançando de lá um cumprimento ríspido de marinheiro, distraído e enebriado pelas neves eternas de seu caleidoscópio mental. E minha avó chegou com os pães, me disse algo em sua voz média que era o mais próximo ao carinho materno que sua imaginação oferecia sem cair no ridículo; e sentamo-nos à mesa e comemos fatias de pão quentinho e delicioso com colheradas generosas de requeijão cremoso por cima. E ela e o Capitão Bombo conversavam esquematizando como seria o trabalho naquele dia, ela falando alto para o que deveria ser algum problema de surdez reconhecida do Capitão, e ele respondendo em sua voz de fiapo de fumante que se tornara tardiamente abstêmio, em grunhidos de preguiça malandra de velho que escondia de propósito sua inteligência real. Minha avó falava ao velho que as escolas abriam às oito horas e eles deveriam me levar para uma escola que ela conhecia por ouvir dizer que ficava na zona leste da cidade. Pelo visto tudo relacionado à educação era um planeta desconhecido para ela e mesmo bastante insólito, e minha mãe não havia deixado nenhum tipo de informação sobre as minhas escolas passadas, e parecia que me perguntar diretamente sobre o assunto era algo que ela não pensara em fazer. Disse-lhe que na cidade de I., onde morei nos últimos 3 anos, cursei até o sétimo ano, ao que ela me olhou pelos seus óculos bifocais como se eu tivesse dito algo inapreensível e sem a mínima lógica, como se tivesse dito que cursei ourivesaria ou estudado fisiologia de marsupiais. Em seus circuitos mentais exercitar o avatar de avó não passava pela hipótese de que o objeto justificador do conceito pudesse ter voz ou consciência própria: eu tinha que ser um menino mais dependente possível para assim ela ter uma real dimensão das assombrosas e indeterminadas responsabilidades do cargo. Ela associava aprendizado a afogamento.
Estávamos todos vestidos, o Capitão com um macacão manchado limpo, cobrindo-lhe a camisa de brim marrom, um boné ressaltando seus grandes olhos de louco suspensos no reino da barba branca, minha avó com uma camiseta com uma estampa de um rosto feminino de óculos de praia e lábios sensuais mordendo um canudinho de um drink, e a calça jeans gastas na parte anterior das coxas, e as sandálias baixas super-práticas que eram suas marcas registradas. Eu me vesti com uma bermuda bege, que Helena me dera em meu aniversário, uma camisa polo azul, e os tênis que foram mais um agrado intuitivo que minha avó trouxera para mim. Eram uns tênis novos, brancos, com o logo da Nike pintados um pouco distorcidos_ com aquela distorção que a gente não sabe como explicar mas não é sutil o bastante para que o olho do inconsciente coletivo fiel às defesas do sagrado mercado internacional não o perceba como uma falsificação apreensiva.
Entrei no banco de trás do Fiat e minha avó se sentou em seu lugar de piloto. Ela ajeitou o banco bem para a frente, como se alguém além dela o tivesse movido para uma posição inconveniente, soltou um xingamento quando viu que as engrenagens não possibilitavam ir mais além, se virou para mim e esticou o braço para colocar a mecha do meu cabelo de volta colado à cabeça. O Capitão Bombo abriu o portão de par a par, olhando para o dia radioso com uma indefectível saúde, como se o mar estivesse à sua frente e não o ruído sujo e atulhado da cidade cinza. Fechou o portão e entrou no carro, e fomos para o primeiro dia de serviço em que eu poderia assisti-los.
Não achamos a escola. Minha avó ficou contornando ruas do centro e nada. Ela falava para o Capitão Bombo ficar atento aos números nas plaquetas, e o Capitão Bombo colocava o cabeça para fora espremendo os olhos, e depois voltava com um murmúrio de dúvida. De hora em hora perguntava se tinham dado o endereço certo para a vovó, lançando, quando ela estava suficientemente concentrada nas buzinadas e nos xingamentos que os outros motoristas soltavam quando ela os fechava, afim de não levar uma bronca, se ela havia copiado a coisa certa. Por fim, a vovó estacionou o Fiat debaixo de uma castanheira anã de frente a uma das pequenas e soturnas casas de uma rua que parecia idílica demais para realmente existir, e suspirou fundo. "É melhor darmos uma pausa e irmos almoçar", disse, jogando com uma força surpreendente o manche das marchas na posição de ré, ao que ele soltou um trinado horrível como de um porco sendo estripado. O Capitão Bombo sorriu, aparentemente feliz com algo que não era desse mundo; averiguei se ele sorria porque o destino encaixava as coisas de forma benemérita para todo mundo, poupando o absurdo de um sujeito como eu de frequentar a escola e das eventuais professoras terem de me suportar, e estava prontificado a dividir o sorriso em concordância, mas, pelo que parecia, não era isso. O Capitão Bombo era uma figura! Como se adivinhasse meus pensamentos, se virou no banco e me encarou, abrindo ainda mais o sorriso, mostrando pela primeira vez os dentes tortos, fortes, negros e sobrecarregados. Eu sorri da mesma forma, não de todo contagiado por causa do incompreensível deslumbramento que me tomou, mas senti um toque de concordância entre nós que destoava da regra, menos fria e funcional.
A vovó estacionou de frente a um restaurante popular. Estava lotado de gente, as mesas todas ocupadas, em silêncio feérico e diligentemente combativo, testando a aliviante educação de não se atracarem por causa da comida. A vovó me cutucou indicando uma mesa desocupada lá no canto, de frente ao banheiro masculino. Sentei-me em uma das cadeiras enquanto os dois se posicionaram na fila de se servir da comida, e logo as outras cadeiras da mesa em que eu estava foram ocupadas por dois homens e duas mulheres. Fique levemente em pânico diante a estupidez de não ter reservado de alguma maneira aqueles lugares, e fiquei com uma timidez estagnante em anunciar que eu estava acompanhado. Mas minha avó chegou, para minha total surpresa, abruptamente a meu lado, com o prato cheio e arrumado com aprumo em suas porções de arroz, feijão, verduras e frango ao molho, como por uma mágica ou por um gesto ensaiado, e indicou que era a minha vez de pegar o meu prato na fila. Sentou-se em meu lugar, limpando a garganta com o que imaginava ser uma delicadeza social para noticiar as pessoas à mesa que ela concordava em dividir o momento com elas. Havia um eletricidade contida, um prazer dissimuladamente predatório em seus modos, que eu atribuí à fome. Procurei o Capitão Bombo e não o encontrei. Fiquei num lugar bem distante do balcão com as bacias fumegantes de comida assim que peguei um dos enormes pratos na estante junto a duas moças nas caixas registradoras da entrada; a linha humana, em uma sobrenatural simetria, se movia vagarosa mas categoricamente; eu não precisava me mover com consciência que minhas pernas o faziam como por uma relojoaria instintiva. Eu tornei a procurar o Capitão Bombo, averiguando por todos os lados e na mesa onde estava a vovó, mas ele havia desaparecido. Um cara com a aparência dele, setentão, barba de sargaço e olhos de assassino, jamais passaria batido na multidão. Deveria estar no banheiro, pensei. Na minha vez, coloquei um pouco de arroz, dispensei o feijão, enchi o máximo que uma tênue noção de etiqueta me permitia o canto do prato com batatinhas fritas, resgatei uma sola de bife acebolado que se esfriava no fundo da bandeja de inox, e fui navegando entre os corpos até a vovó. Ela havia acabado de comer e se dedicava a estucar os dentes com um palito, usando a mão para tampar em sigilo a ação que transcorria em sua boca, e seus olhos tinham a mesma estranha dissimulada contenção focal que na verdade parecia estar em elevada observação a picuinhas secretas e indistinguíveis em torno. Ela se levantou com uma calma profunda, que me lembrou ao mesmo tempo minha mãe e uma amiga da minha mãe que vi um dia e que vivia sob uma pesada camada de estupefacientes, e me indicou com um gesto que era a minha vez de se sentar ali e almoçar. Com um olhar ela me comunicou que me esperaria no carro, assim que eu terminasse. Seria mesmo uma espécie de íntimo entendimento genético que na nossa família tinha, de lermos nossas mentes recíprocas?
Impus-me a lembrança de olhar o nome do restaurante quando saísse. As pessoas, a conversa, o retinir dos pratos, o som das bocas mastigando, foram me envolvendo. Demorei para comer as batatinhas, salgando uma por uma e despejando o ketchup da mesa em cada uma delas antes de devorá-las. Era o oposto do que eu estaria fazendo na casa da vovó, deitado entre as anáguas e as camisolas e os triângulos de panos recortados, mas ao mesmo tempo equivalia em muito, como a outra face de uma moeda. Dei conta do que começou a acontecer ao meu lado, a mulher que se levantou eufórica e esbravejante, o homem que a acompanhou no levantar e passou a andar daqui para ali procurando por debaixo das mesas e em seguida por cima das outras mesas. Logo depois todas as pessoas estavam também em pé, e se olhando umas para as outras com caras de estarrecimento e tédio, como se aquilo que acontecia não deveria acontecer naquele local e principalmente enquanto almoçavam. Eu continuei depositando ketchup nas batatas e as enfiando com os dedos pela boca, respingando-lhes uns jatinhos de sal do saleiro, e as mastigava com gosto sentindo o quanto se pareciam com papel, tinham a tecitura e o sabor de papel, sem me desiludir porque havia comido centenas, talvez milhares daquelas mesmas batatas insípidas e gordurosas com gosto de papel pelos 14 anos da minha vida. E a mulher que primeiro se levantara parou agora em um desespero transmodificado, iluminado por uma revelação súbita, e daí ela olhou para onde eu estava, com um ódio que era puro assombro, e ficou me olhando pelo que me pareceu um minuto inteiro, embora naquele restaurante que eu deveria me lembrar de ler o nome na paliçada de frente assim que eu saísse, para me certificar se não se chamava Hades, ou Usher, ou que diabo fosse, o tempo não contava, o tempo nem o espaço contavam, vigoravam ali tempos e espaços próprios e destituídos das mesmas leis que regem o tempo e o espaço correntes e conhecidos_ ou talvez se chamasse, o restaurante, Limbo, ou o que fosse. Eu encarei a mulher com uma preguiça incrível, fruto do calor estonteante que fazia ali, sentindo um medo pré se formando, mas daí percebi que o que ela olhava não era a mim, mas os enquadros anteriores que voltaram no tempo diante seu olhar e mostraram a velha senhora septuagenária que ali se sentara alguns distendidos minutos antes de mim, embora minha avó fosse taxativa em dizer que tinha 68 anos e ainda não era uma septuagenária.
Foi aí que eu vi o Capitão Bombo, estacionado em uma imobilidade insolúvel e irradiando uma impressão aflitiva de paz, parado em pé junto ao balcão a uma distância de três metros, parecendo que escolhera de propósito o holofote solitário de um raio de sol que vinha de uma pequena janela acima das moças da registradora para o distinguir em uma equívoca condição de ícone. Ele me olhava com um ar de total ausência, como se usasse a indistinta figura em borrão que eu devia formar no canto escuro de frente ao banheiro como escoro mental para se concentrar em alguma profunda meditação. Não havia sombra de pratos perto dele e um de seus braços se escorava com uma elegância raquítica no tampo de fórmica. O raio de sol o tornava ridiculamente feio, lhe retirava uns três quilos de seu já minguado corpo de velho, clareava em uma assepsia sem consagração toda a sujeira e entremeamento que dava robustez à sua barba. Nos fitamos longamente no meio da balbúrdia, e antes que a polícia chegasse para averiguar aonde fora parar a bolsa da mulher e não sei mais o que que davam por sumido a cada instante, ele saiu de seu alheamento e me fez um sinal para irmos embora, saindo à minha frente. Deixei o prato como estava, com alguma batatinhas encurvadas sobrando, peguei um guardanapo a título de ter algo para fazer com as mãos e fui furando o bloqueio.
Lá fora não dei pelo Fiat. Desci a avenida e virei à esquerda. Havia um vendedor de limpadores de para-brisas do outro lado da rua, um negro com uma barraquinha de rádios de pilha, duas mulheres com lenços na cabeça esperando com diligência sabe-se lá o que sentadas num banco de madeira de frente a uma loja de produtos agropecuários, um grupo de agiotas conversando com muito ânimo nos degraus de uma agência bancária. Parei na esquina e fiquei uns bons cinco minutos sem fazer nada, só olhando os carros e as pessoas passando. Segui adiante e vi duas viaturas da polícia parados na rua perpendicular, fechando o Fiat cinza da vovó. Uma pequena multidão foi se formando em torno e eu me aproximei de um moreno troncudo, que parecia estar ali esperando por serviços ocasionais de chapa, e ouvi o que ele dizia sobre a situação para um senhor careca com ar de general aposentado. Nessas horas há uma simpatia irresistível e um senso de comunhão entre as pessoas, e senti que poderia ser amigo do sujeito e ficar ouvindo-o por horas. Ele usava um tom de voz que na certa não era o do seu dia a dia, um tom afável e prontificado. Dizia que a policia encontrara um casal de velhos que roubou uma bolsa no restaurante do Zé Bigode, uma mulher de 70 anos e um velho com uma barba imensa e com cara de louco. Então era esse o nome do restaurante, pensei, decepcionado. Desci até o centro da ação e me espichei nos tênis Nike para ver se via a vovó por sobre as cabeças dos espectadores, e a vi no final do meu movimento panorâmico debaixo de uma marquise, esplendorosamente digna, segurando a alça de sua bolsa no ombro e falando algo ao policial. O sujeito, rombudinho e com uma irrefreável tendência à mais vulgar força bruta, passou a gritar com ela. "A senhora está me desacatando; a senhora vai entrar sim na viatura". Então o sujeito fez algo deplorável: pegou o braço da minha avó e o torceu para trás, dando-lhe um torniquete desajeitado aprendido na academia, e lhe passou uma das algemas, e em seguida minha avó cedeu o outro braço e ele passou a outra algema e a imobilizou. Os cabelos da minha avó saíram de seu coque personalizado e ficou como um feixe de fumaça congelada apontando para o céu. Os óculos dela ficaram tortos mas não caíram. Ela foi colocada dentro da viatura, o sujeito tendo que empurrar sua cabeça para que ela, que era bem mais alta do que ele, pudesse entrar no banco de trás.
Não vi o Capitão Bombo, mas na certa ele já estava sentado no outro carro.
Minha avó durante os meus primeiros meses ali nunca acordava antes das 10. Os dias de trabalho dos dois_ dela e do Capitão Bombo_, exigiam muito, eu não os via senão quando a tarde caía e o ruído da casa vazia e do fluxo de carros da avenida em frente formavam uma nebulosa sonora indistinta, programada a se romper com a porta sendo aberta e os dois velhos entrando cansados e satisfeitos, com sacolas e a bolsa da vovó acrescida de peso produtivo que eles lançavam sem muita cerimônia por cima da mesa da sala. Eles entravam com o Fiat Uno cinza na garagem, sempre dirigido pela minha avó, que ia de queixo colado no volante e o banco puxado ao máximo para a frente, nunca olhando para os lados e usando os espelhos retrovisores com uma espécie de prestidigitação premonitória que contava mais com o bom-senso dos outros motoristas em não se aproximarem do que da necessidade da vovó de deslocar o pescoço da imutável posição retilínea a fim de ver a concorrência nas vias públicas, o velho Fiat amassado dos lados e de pneus sem calotas mostrando o metal calcinado das rodas. Minha avó parava o carro na contramão, o motor ligado, e da porta do passageiro saia o Capitão Bombo, com uma vagareza ritualística que lembrava o palhaço do circo do fusca que se parte ao meio em uma labareda de fumaça, indiferente aos contratempos e o menos serviçal possível às atualizações da tecnologia, a barba cinza batendo-lhe no peito, o chapéu de praia deixando entrever o rosto afundado nas duas faces pela ausência dos molares, a calça caqui de brim comprada no brechó e a camisa verde escura e desbotada aberta até o quarto botão para combater o calor; ele se aprumava sem parar o trote e ia bamboleante e esperto até o portão gradeado, puxava o trinco e o abria de par a par, e com um gesto sério e divertido fazia uma vênia cavalheiresca para a vovó entrar com o carro, e assim que ela o fazia (sem lhe prestar a mínima atenção com os olhos maníacos dirigidos para a frente, talvez como prevenção para que os eventuais acidentes que amassaram as portas não se repetissem em um momento tão delicado), ele apressadamente entrava e fechava o portão, olhando para os lados com o que me parecia uma encenação dos filmes policiais assistidos nas madrugadas dos finais de semana de folga.
O Capitão Bombo tinha mais de 70 anos, mas vou tratar dele depois. Agora quero dizer de uma vez por todas sobre o maldito café-da-manhã com que comecei esse relato. Como minha avó não havia previsto a entrada de um menino de 12 anos no seu cotidiano, ela se comportava como vinha fazendo desde sempre antes da minha presença. Ela retirava o que havia de sobras da janta do dia anterior da geladeira e colocava na mesa da cozinha, cobria com um pano de prato e era isso. Eu acordava geralmente na mesma hora que eles, porque velhos fazem um barulho descomunal até que consigam endireitar a homeostase dos corpos, com pigarros, bocejos, afinamento das vozes, flatulências, etc, mas sabia que era mais prudente fingir que acordava depois de deixá-los ir para ter a casa toda para mim. Quando não havia mais som algum depois que o portão era fechado e o casquejo do Fiat sumia na distância, eu me levantava do pequeno quarto, ia mijar no banheiro, escovava os dentes, e espionava o corredor até a sala. Olhava os montes de objetos sem nome atulhando os sofá e a mesa de centro, os pratos com cascas de banana que fazia dias estavam ali, as latas de refrigerante amassadas jogadas no chão, a poeira acumulada no armarinho do canto com seu jarro de flor artificial que retinha de uma maneira triste e hipnótica um raio de sol. E o silêncio que era a única manifestação de alguma plenitude, a calma profunda e inviolável que eu não conhecia em meus anos de peripatetismo com minha mãe por apartamentos no centro e quartos em repúblicas cuja rotina eram brigas internas e externas e muita televisão ligada no último volume e muita música chorosa e áspera vinda de todos os lados. Entrava na cozinha minúscula, com uma mesa de fórmica e duas cadeiras e a geladeira de duas portas rombuda e manca, que dava um agudo quando era aberta, e via o que tinha pra comer, que era, invariavelmente, a carne de porco da noite anterior envolvida em uma névoa gelatinosa de gordura, o brócolis murcho reduzido de suas proporções naturais por um cozimento exagerado, cenouras anãs, um pedaço de bife preto, uma garrafa de leite que dava um piparote no nariz quando se chegava perto do gargalo. Mas isso não me importava_ às vezes eu limpava a carne de porco da gordura, espremia um pouco de ketchup e comia_, eu nunca acordava com fome.
Eu amava ficar na casa solitária observando o silêncio por horas. Talvez houvesse uma fome íntima, muito incrustada para ser percebida, e ela potencializasse aquela languidez, me fizesse ver coisas que só um doente e alguém à beira da morte vê. Eu nunca, conscientemente, tinha desmaiado e não poderia saber a diferença entre um sono à tarde e um desmaio. O que acontecia era que aquele silêncio aos poucos me fazia dormir; eu deitava entre as caixas e as roupas na sala, espichava os braços e pernas até o máximo e me entregava. Acho que eu me tornei magro demais e minha avó passou a perceber isso. Ela me fazia sanduíches generosos quando chegava de seus afazeres, e duas horas depois ela e o Capitão Bombo preparavam o jantar que era a única refeição importante para eles, o Capitão Bombo se dedicando às verduras e a vovó se ocupando com as carnes. Os dois não eram nada bons nisso, ou melhor, eram destituídos por inteiro de qualquer talento para a cozinha, e não sei como sobreviviam há tanto tempo a uma dieta fundamentada na gordura e na transfiguração das propriedades nutritivas dos vegetais. Mas alguma coisa a fez ter uma súbita lucidez sobre a diferença entre as necessidades de um organismo velho e de um organismo jovem, talvez ela tivesse se ocupado em ler algum artigo sobre o assunto em uma das revistas que apareciam em sua bolsa e nas sacolas que trazia, ou alguém lhe dissera sobre as obrigações legais que se tem que ter com uma criança, aquelas exigências estatais sobre saúde e educação que se confrontadas pode levar a problemas relativamente sérios com a justiça, e então, um dia, quando me levantei e dei meus passos cautelosos até a cozinha, vi que haviam pães por sobre a mesa, uma sacola cheia deles, e além disso um pote de requeijão cremoso na geladeira e um litro de leite fresquinho, e mais roscas e algumas bolachas recheadas sabor limão em uma cesta ao lado dos pães. Eu não duvidei de que aquilo tudo era para mim, mas entendi a mensagem nessa outra ponta da comunicação familiar da forma como tinha que entender, que aquilo não era carinho mas uma boa reconfiguração na busca por eficiência e facilitação que eram as leis do nosso sangue comum, a mesma coisa que estava na calma estoica e superiora de minha mãe, o mesmo desapego ao sentimentalismo.
Eu descobri depois o sacrifício de ter aqueles café da manhã para minha avó. Ela passou a acordar de madrugada, às seis da manhã_ madrugada para ela. Ela vestia seu jeans batido amassado nos fundilhos, o jeans de borracheiro muito lavado e escoriado nas pernas; vestia uma camisa de babados no fundo decote entre os lautos peitos os quais outrora haviam sido parte de seu vantajoso aparato sexual; colocava um cachecol vermelho berrante nunca lavado e de cheiro imemorial de guarda-roupa destoando por completo de qualquer noção de moda ou juventude que na certa ela não pretendia nem um pouco ter mas que talvez alguém de fora achasse ser sua intenção. Ela calçava as chinelas baixas, muito gastas e seguras, imunes a poças de água e a todos os perigos do instável relevo das ruas; apanhava sua bolsa de couro parecida com um alforje de muitos compartimentos de um caçador de grandes mamíferos africanos, e saía pela porta com seus cabelos crespos tingidos de amarelo amarfanhados como um ninho de pomba, os óculos gordurosos com lentes bi-focais a auxiliando com a maçaneta e o molho de chaves, no que ela soltava murmúrios reflexivos demonstrando seus cálculos mentais, seus pequenos desvanecimentos de atenção que a faziam voltar para pegar algo esquecido, a carteira talvez, e saía pelo portão para a assombrosa atmosfera desconhecida do amanhecer progressivo. Há quantos anos não via aquele tom de luz, aqueles nuances de sombra, não via que tipo de pessoa se entregava à labuta já nas primeiras horas da manhã, velhas paradas no ponto de ônibus da esquina com caras de que tinham um longo dia na cozinha de alguma bodega pela frente, motociclistas passando com indolentes ziguezagues entre os carros, só ainda não exercendo toda a fúria porque o sono não permitia, todo mundo esquentando as turbinas. Ela deveria ter sentido um enfado profundo por se expor a esse mundo de pessoas triviais e ditas honradas, ter se colocado entre os motoristas de táxi e as empregadas domésticas na fila para pegar o pão. Isso deve ter sido demais para sua capacidade de abstrair-se da realidade.
O fato é que ela, uma semana depois que as coisas mudaram, me informou na mesa de jantar que teria que achar uma escola para mim. Ela falava um tom mais baixo sempre que se dirigia a mim, como seu eu fosse uma peça de um protocolo ainda não estudado, conservado à parte, reavaliando algum subproduto de sua imaginação de como seria uma avó ajustada em suas estimativas sem ser ridículo. O Capitão Bombo, que picava um tomate assado semelhante a uma grande bunda de formiga enegrecida, sorriu e me olhou rapidamente; eu devolvi o olhar à procura de significados, se ele estava zombando de mim, se achava a situação fantástica demais eu sentado em um banco de frente ao quadro, mas era apenas um sorriso, sem nenhuma consequência. Eu estava disposto a cair na chacota com ele, mas era apenas um sorriso.
No outro dia, uma segunda-feira empoeirada e aparentando ter mais horas do que o permitido, a vovó acordou às seis horas e foi comprar o pão. Eu me levantei e fiz minhas abluções antes que o Capitão Bombo começasse com seus concentrados aquecimentos corporais, e me sentei numa área do sofá desocupada, afastando para o lado uma echarpe azul piscina. Era o último dia em que eu ficaria no silêncio orbicular da casa e eu tentava aproveitar, pegar algumas informações extras, mas só senti uma nostalgia antecipada de uma fase da vida ficando para trás. Olhei a flor de pano e o mesmo raio de sol começando a se intensificar por sobre ela, e senti uma vontade imensa de ter direito a apenas aquele dia a mais entre aqueles objetos órfãos eles mesmos de tudo que vicejava e competia entre si lá fora. A luz por sobre a flor descia lenta mas decididamente, ciente de que cumpria uma lei cósmica, e ia aos poucos se equilibrando até achar a mesma configuração modular de todos os dias, e ficaria como uma redoma por sobre aquele triste a manchado pedaço de pano que a vovó devia ter comprado ainda na época em que minha mãe morava com ela, até que, vencido as horas estipuladas, começaria a desvanecer com a mesma delicadeza, retornando para seu limbo no meio da escuridão, tudo na mais perfeita e inviolável ordem, sem labutas, sem gritarias, livre das obrigações do charme, da beleza e da vida. Eu queria que a vovó me concedesse a permissão de pelo menos aquele dia eu poder me deitar entre a bagunça dos panos e dos pratos sujos e dormir em uma paz opiácea e feliz.
Mas aí o Capitão Bombo já se arrastava pelo corredor, me lançando de lá um cumprimento ríspido de marinheiro, distraído e enebriado pelas neves eternas de seu caleidoscópio mental. E minha avó chegou com os pães, me disse algo em sua voz média que era o mais próximo ao carinho materno que sua imaginação oferecia sem cair no ridículo; e sentamo-nos à mesa e comemos fatias de pão quentinho e delicioso com colheradas generosas de requeijão cremoso por cima. E ela e o Capitão Bombo conversavam esquematizando como seria o trabalho naquele dia, ela falando alto para o que deveria ser algum problema de surdez reconhecida do Capitão, e ele respondendo em sua voz de fiapo de fumante que se tornara tardiamente abstêmio, em grunhidos de preguiça malandra de velho que escondia de propósito sua inteligência real. Minha avó falava ao velho que as escolas abriam às oito horas e eles deveriam me levar para uma escola que ela conhecia por ouvir dizer que ficava na zona leste da cidade. Pelo visto tudo relacionado à educação era um planeta desconhecido para ela e mesmo bastante insólito, e minha mãe não havia deixado nenhum tipo de informação sobre as minhas escolas passadas, e parecia que me perguntar diretamente sobre o assunto era algo que ela não pensara em fazer. Disse-lhe que na cidade de I., onde morei nos últimos 3 anos, cursei até o sétimo ano, ao que ela me olhou pelos seus óculos bifocais como se eu tivesse dito algo inapreensível e sem a mínima lógica, como se tivesse dito que cursei ourivesaria ou estudado fisiologia de marsupiais. Em seus circuitos mentais exercitar o avatar de avó não passava pela hipótese de que o objeto justificador do conceito pudesse ter voz ou consciência própria: eu tinha que ser um menino mais dependente possível para assim ela ter uma real dimensão das assombrosas e indeterminadas responsabilidades do cargo. Ela associava aprendizado a afogamento.
Estávamos todos vestidos, o Capitão com um macacão manchado limpo, cobrindo-lhe a camisa de brim marrom, um boné ressaltando seus grandes olhos de louco suspensos no reino da barba branca, minha avó com uma camiseta com uma estampa de um rosto feminino de óculos de praia e lábios sensuais mordendo um canudinho de um drink, e a calça jeans gastas na parte anterior das coxas, e as sandálias baixas super-práticas que eram suas marcas registradas. Eu me vesti com uma bermuda bege, que Helena me dera em meu aniversário, uma camisa polo azul, e os tênis que foram mais um agrado intuitivo que minha avó trouxera para mim. Eram uns tênis novos, brancos, com o logo da Nike pintados um pouco distorcidos_ com aquela distorção que a gente não sabe como explicar mas não é sutil o bastante para que o olho do inconsciente coletivo fiel às defesas do sagrado mercado internacional não o perceba como uma falsificação apreensiva.
Entrei no banco de trás do Fiat e minha avó se sentou em seu lugar de piloto. Ela ajeitou o banco bem para a frente, como se alguém além dela o tivesse movido para uma posição inconveniente, soltou um xingamento quando viu que as engrenagens não possibilitavam ir mais além, se virou para mim e esticou o braço para colocar a mecha do meu cabelo de volta colado à cabeça. O Capitão Bombo abriu o portão de par a par, olhando para o dia radioso com uma indefectível saúde, como se o mar estivesse à sua frente e não o ruído sujo e atulhado da cidade cinza. Fechou o portão e entrou no carro, e fomos para o primeiro dia de serviço em que eu poderia assisti-los.
Não achamos a escola. Minha avó ficou contornando ruas do centro e nada. Ela falava para o Capitão Bombo ficar atento aos números nas plaquetas, e o Capitão Bombo colocava o cabeça para fora espremendo os olhos, e depois voltava com um murmúrio de dúvida. De hora em hora perguntava se tinham dado o endereço certo para a vovó, lançando, quando ela estava suficientemente concentrada nas buzinadas e nos xingamentos que os outros motoristas soltavam quando ela os fechava, afim de não levar uma bronca, se ela havia copiado a coisa certa. Por fim, a vovó estacionou o Fiat debaixo de uma castanheira anã de frente a uma das pequenas e soturnas casas de uma rua que parecia idílica demais para realmente existir, e suspirou fundo. "É melhor darmos uma pausa e irmos almoçar", disse, jogando com uma força surpreendente o manche das marchas na posição de ré, ao que ele soltou um trinado horrível como de um porco sendo estripado. O Capitão Bombo sorriu, aparentemente feliz com algo que não era desse mundo; averiguei se ele sorria porque o destino encaixava as coisas de forma benemérita para todo mundo, poupando o absurdo de um sujeito como eu de frequentar a escola e das eventuais professoras terem de me suportar, e estava prontificado a dividir o sorriso em concordância, mas, pelo que parecia, não era isso. O Capitão Bombo era uma figura! Como se adivinhasse meus pensamentos, se virou no banco e me encarou, abrindo ainda mais o sorriso, mostrando pela primeira vez os dentes tortos, fortes, negros e sobrecarregados. Eu sorri da mesma forma, não de todo contagiado por causa do incompreensível deslumbramento que me tomou, mas senti um toque de concordância entre nós que destoava da regra, menos fria e funcional.
A vovó estacionou de frente a um restaurante popular. Estava lotado de gente, as mesas todas ocupadas, em silêncio feérico e diligentemente combativo, testando a aliviante educação de não se atracarem por causa da comida. A vovó me cutucou indicando uma mesa desocupada lá no canto, de frente ao banheiro masculino. Sentei-me em uma das cadeiras enquanto os dois se posicionaram na fila de se servir da comida, e logo as outras cadeiras da mesa em que eu estava foram ocupadas por dois homens e duas mulheres. Fique levemente em pânico diante a estupidez de não ter reservado de alguma maneira aqueles lugares, e fiquei com uma timidez estagnante em anunciar que eu estava acompanhado. Mas minha avó chegou, para minha total surpresa, abruptamente a meu lado, com o prato cheio e arrumado com aprumo em suas porções de arroz, feijão, verduras e frango ao molho, como por uma mágica ou por um gesto ensaiado, e indicou que era a minha vez de pegar o meu prato na fila. Sentou-se em meu lugar, limpando a garganta com o que imaginava ser uma delicadeza social para noticiar as pessoas à mesa que ela concordava em dividir o momento com elas. Havia um eletricidade contida, um prazer dissimuladamente predatório em seus modos, que eu atribuí à fome. Procurei o Capitão Bombo e não o encontrei. Fiquei num lugar bem distante do balcão com as bacias fumegantes de comida assim que peguei um dos enormes pratos na estante junto a duas moças nas caixas registradoras da entrada; a linha humana, em uma sobrenatural simetria, se movia vagarosa mas categoricamente; eu não precisava me mover com consciência que minhas pernas o faziam como por uma relojoaria instintiva. Eu tornei a procurar o Capitão Bombo, averiguando por todos os lados e na mesa onde estava a vovó, mas ele havia desaparecido. Um cara com a aparência dele, setentão, barba de sargaço e olhos de assassino, jamais passaria batido na multidão. Deveria estar no banheiro, pensei. Na minha vez, coloquei um pouco de arroz, dispensei o feijão, enchi o máximo que uma tênue noção de etiqueta me permitia o canto do prato com batatinhas fritas, resgatei uma sola de bife acebolado que se esfriava no fundo da bandeja de inox, e fui navegando entre os corpos até a vovó. Ela havia acabado de comer e se dedicava a estucar os dentes com um palito, usando a mão para tampar em sigilo a ação que transcorria em sua boca, e seus olhos tinham a mesma estranha dissimulada contenção focal que na verdade parecia estar em elevada observação a picuinhas secretas e indistinguíveis em torno. Ela se levantou com uma calma profunda, que me lembrou ao mesmo tempo minha mãe e uma amiga da minha mãe que vi um dia e que vivia sob uma pesada camada de estupefacientes, e me indicou com um gesto que era a minha vez de se sentar ali e almoçar. Com um olhar ela me comunicou que me esperaria no carro, assim que eu terminasse. Seria mesmo uma espécie de íntimo entendimento genético que na nossa família tinha, de lermos nossas mentes recíprocas?
Impus-me a lembrança de olhar o nome do restaurante quando saísse. As pessoas, a conversa, o retinir dos pratos, o som das bocas mastigando, foram me envolvendo. Demorei para comer as batatinhas, salgando uma por uma e despejando o ketchup da mesa em cada uma delas antes de devorá-las. Era o oposto do que eu estaria fazendo na casa da vovó, deitado entre as anáguas e as camisolas e os triângulos de panos recortados, mas ao mesmo tempo equivalia em muito, como a outra face de uma moeda. Dei conta do que começou a acontecer ao meu lado, a mulher que se levantou eufórica e esbravejante, o homem que a acompanhou no levantar e passou a andar daqui para ali procurando por debaixo das mesas e em seguida por cima das outras mesas. Logo depois todas as pessoas estavam também em pé, e se olhando umas para as outras com caras de estarrecimento e tédio, como se aquilo que acontecia não deveria acontecer naquele local e principalmente enquanto almoçavam. Eu continuei depositando ketchup nas batatas e as enfiando com os dedos pela boca, respingando-lhes uns jatinhos de sal do saleiro, e as mastigava com gosto sentindo o quanto se pareciam com papel, tinham a tecitura e o sabor de papel, sem me desiludir porque havia comido centenas, talvez milhares daquelas mesmas batatas insípidas e gordurosas com gosto de papel pelos 14 anos da minha vida. E a mulher que primeiro se levantara parou agora em um desespero transmodificado, iluminado por uma revelação súbita, e daí ela olhou para onde eu estava, com um ódio que era puro assombro, e ficou me olhando pelo que me pareceu um minuto inteiro, embora naquele restaurante que eu deveria me lembrar de ler o nome na paliçada de frente assim que eu saísse, para me certificar se não se chamava Hades, ou Usher, ou que diabo fosse, o tempo não contava, o tempo nem o espaço contavam, vigoravam ali tempos e espaços próprios e destituídos das mesmas leis que regem o tempo e o espaço correntes e conhecidos_ ou talvez se chamasse, o restaurante, Limbo, ou o que fosse. Eu encarei a mulher com uma preguiça incrível, fruto do calor estonteante que fazia ali, sentindo um medo pré se formando, mas daí percebi que o que ela olhava não era a mim, mas os enquadros anteriores que voltaram no tempo diante seu olhar e mostraram a velha senhora septuagenária que ali se sentara alguns distendidos minutos antes de mim, embora minha avó fosse taxativa em dizer que tinha 68 anos e ainda não era uma septuagenária.
Foi aí que eu vi o Capitão Bombo, estacionado em uma imobilidade insolúvel e irradiando uma impressão aflitiva de paz, parado em pé junto ao balcão a uma distância de três metros, parecendo que escolhera de propósito o holofote solitário de um raio de sol que vinha de uma pequena janela acima das moças da registradora para o distinguir em uma equívoca condição de ícone. Ele me olhava com um ar de total ausência, como se usasse a indistinta figura em borrão que eu devia formar no canto escuro de frente ao banheiro como escoro mental para se concentrar em alguma profunda meditação. Não havia sombra de pratos perto dele e um de seus braços se escorava com uma elegância raquítica no tampo de fórmica. O raio de sol o tornava ridiculamente feio, lhe retirava uns três quilos de seu já minguado corpo de velho, clareava em uma assepsia sem consagração toda a sujeira e entremeamento que dava robustez à sua barba. Nos fitamos longamente no meio da balbúrdia, e antes que a polícia chegasse para averiguar aonde fora parar a bolsa da mulher e não sei mais o que que davam por sumido a cada instante, ele saiu de seu alheamento e me fez um sinal para irmos embora, saindo à minha frente. Deixei o prato como estava, com alguma batatinhas encurvadas sobrando, peguei um guardanapo a título de ter algo para fazer com as mãos e fui furando o bloqueio.
Lá fora não dei pelo Fiat. Desci a avenida e virei à esquerda. Havia um vendedor de limpadores de para-brisas do outro lado da rua, um negro com uma barraquinha de rádios de pilha, duas mulheres com lenços na cabeça esperando com diligência sabe-se lá o que sentadas num banco de madeira de frente a uma loja de produtos agropecuários, um grupo de agiotas conversando com muito ânimo nos degraus de uma agência bancária. Parei na esquina e fiquei uns bons cinco minutos sem fazer nada, só olhando os carros e as pessoas passando. Segui adiante e vi duas viaturas da polícia parados na rua perpendicular, fechando o Fiat cinza da vovó. Uma pequena multidão foi se formando em torno e eu me aproximei de um moreno troncudo, que parecia estar ali esperando por serviços ocasionais de chapa, e ouvi o que ele dizia sobre a situação para um senhor careca com ar de general aposentado. Nessas horas há uma simpatia irresistível e um senso de comunhão entre as pessoas, e senti que poderia ser amigo do sujeito e ficar ouvindo-o por horas. Ele usava um tom de voz que na certa não era o do seu dia a dia, um tom afável e prontificado. Dizia que a policia encontrara um casal de velhos que roubou uma bolsa no restaurante do Zé Bigode, uma mulher de 70 anos e um velho com uma barba imensa e com cara de louco. Então era esse o nome do restaurante, pensei, decepcionado. Desci até o centro da ação e me espichei nos tênis Nike para ver se via a vovó por sobre as cabeças dos espectadores, e a vi no final do meu movimento panorâmico debaixo de uma marquise, esplendorosamente digna, segurando a alça de sua bolsa no ombro e falando algo ao policial. O sujeito, rombudinho e com uma irrefreável tendência à mais vulgar força bruta, passou a gritar com ela. "A senhora está me desacatando; a senhora vai entrar sim na viatura". Então o sujeito fez algo deplorável: pegou o braço da minha avó e o torceu para trás, dando-lhe um torniquete desajeitado aprendido na academia, e lhe passou uma das algemas, e em seguida minha avó cedeu o outro braço e ele passou a outra algema e a imobilizou. Os cabelos da minha avó saíram de seu coque personalizado e ficou como um feixe de fumaça congelada apontando para o céu. Os óculos dela ficaram tortos mas não caíram. Ela foi colocada dentro da viatura, o sujeito tendo que empurrar sua cabeça para que ela, que era bem mais alta do que ele, pudesse entrar no banco de trás.
Não vi o Capitão Bombo, mas na certa ele já estava sentado no outro carro.
terça-feira, 9 de janeiro de 2018
Por ocasião do 190º aniversário de Liev Tolstói
A felicidade em "Guerra e paz"
Não deixa de ser curioso que em 2500 páginas já de todo memoráveis, os capítulos em que o leitor tem a imediata consciência de estar presenciando um dos maiores momentos da literatura correspondam a cenas felizes de caçada na neve que se encerram num idílico jantar numa cabana camponesa. Tais capítulos do incriticável Guerra e Paz (quem seria louco o bastante, ou capacitado o bastante?) confirmam a sentença de Richard Tull, o autor falido de A Informação, de Martin Amis, que diz ser Tolstoi o único escritor que conseguiu registrar a felicidade por escrito. A leitura sensorial sobre Nicolai Rostóv e sua irmã, Natascha Rostóv, no último momento de interação amorosa tida por eles antes que o primeiro parta para a segunda etapa da guerra russa contra Napoleão, e antes que a segunda se case, corresponde ao processo eminentemente telepático da leitura, que Walter Benjamin descobre em seu ensaio sobre o surrealismo. Essas cenas são tão monumentais que a simplicidade com que são tratadas despertam a sensação tardia de que Tolstoi utilizou de um joguete mefistofélico correspondente à transposição no papel da crueldade investida em toda a efemeridade dos momentos felizes, o que o faz um dos escritores mais perigosos, indevidamente colocado como um sujeito mais espiritualmente são que o para sempre indissociável a ele Dostoiévski. Enquanto o autor de Os Demônios dá sua estocada sobre o destino incontornável do homem para a falência e o crime através de uma miríade de palavreado desconexo e selvagem, Tolstoi caminha pela linha direta de sua genialidade de narrador puro, sem barreiras, sem frenetismos, sem as intercambiações pela clinica psiquiátrica, o que, de um outro ponto de vista, soa mais pérfido que a perfidez atribuída há um século ao seu perturbado colega de letras. Sua telepatia dada na fluidez ligeira do texto proporciona a lucidez incômoda de uma ciência da vida nessa terra como condicionada unicamente a uma entidade histórica indiferente, para a qual a decisão humana não representa nada, que, se os estudiosos acadêmicos se propuserem a reavaliar o modernismo de Tolstoi, talvez percebessem ser essa visão mais factível da verdade do que a neuropatologia dostoiévskiana que inspirou toda a literatura do século XX. Os heróis de Dostoiévski mostram, em negativo, que a doença reina como comandante suprema das hordas da história, e por isso, numa sequência lógica distante, a cura progressiva dessa doença faria com que esses exércitos de sevícias, concupiscências, ambições de poder, egoísmos e egolatrias, barbáries e bestialidades, dispusessem das armas naturalmente num estágio de conserto evolutivo planejado; já Tolstoi, como alguém detentor de uma posição privilegiada de observador bem acima do ruído onipresente, sabe que a doença humana é incurável e, pior, não tem a minima participação fagulhar nos mecanismos históricos. Dois exemplo disso são o capítulo inicial do volume 2, e as elucubrações da segunda parte desse mesmo volume de Guerra e Paz. No primeiro, numa cena engraçadíssima, um grupo de soldados ulanos, na ânsia de cumprir uma mísera ordem de Napoleão para atravessar um rio de águas caudalosas, se afoga vaidosamente em honra do atarefado e indiferente imperador francês.
"Quando o ajudante de ordens voltou e, escolhendo um momento apropriado, dignou-se a chamar a atenção do imperador para a dedicação dos poloneses à sua pessoa, o homem pequeno de casaco cinza levantou-se, chamou Berthier e pôs-se a caminhar com ele de um lado para outro, pela margem do rio, dando-lhe ordens e, de vez em quando, lançando olhares descontentes para os ulanos que se afogavam e distraíam a sua atenção."
No outro momento, Tolstoi faz uma análise do que levou russos e franceses à guerra de 1812, por todos tida como absurda e assassina, mas que, à revelia da razão e das decisões internas de paz de ambos os lados, motivou dois exércitos ao suicídio pelo único motivo da determinação histórica estar acima do controle humano. E Tolstoi entremeia um ensaio decantado sobre a vanidade das ações humanas como um observador posicionado 55 anos à frente dos eventos, numa dessas liberdades idiossincráticas típicas de Tolstoi de não estar nem aí para as técnicas do romance europeu, arrebanhando a estultície de historiadores franceses e russos apontando o quanto cada um puxar a sardinha da interpretação da vitória para sua pátria não desanuvia em nada a compreensão dos fatos.
A falta de uma perspectiva real da grandiosidade de Guerra e Paz para a literatura do século XX, seus elementos simbólicos no estudo da História, da sociologia das massas, do poder, sua força premonitória de mostrar a insurgência do massacre desafogador bolchevique, seu caráter chocantemente à frente das correntes modernistas e sua lucidez despercebida, revelam a suspeita de que trata-se de um romance não devidamente lido e inconsequentemene negligenciado.Tolstói não é nem um pouco panfletário, ao contrário dos impulsos didáticos de Dostoiévski que o levaram ao estudo pormenorizado da queda adâmica; o cristianismo de Tolstói é amplamente iconoclasta e investido da concepção de que Cristo é a derradeira figura diabólica (Zizek, A Visão em Paralaxe), enquanto o cristianismo de Dostoiévski bebe do mais profundo ufanismo de povo escolhido da velha Rússia piedosa e primitiva, com todo o seu ortodoxismo canhestro. Tolstói levou às últimas consequências sua concepção da história como um fardo inescapável, conduzindo-se para um isolamento ativo (na medida em que foi pedagogo e anarquista thoureano social amplamente participativo) em que a definição oca de místico demonstra desconhecimento do quanto suas teorias religiosas eram fincadas com os pés no chão, e o quanto obras como O Reino de Deus Está em Vós atribuem-se a um filósofo de peso com a mesma sanguinidade de um Nietzsche do que de um raso pregador evangélico. Tolstói foi menos esotérico na fé no expurgo do pecado através de sua descrição fatídica na escrita do que Dostoiévski, e vemos isso em dois momentos sublimes desses imensos escritores: nas cenas finais de Os Demônios, após a densa viagem do leitor pela atmosfera policialesca e pelas revelações do inferno que há por detrás das realizações políticas, o gênio diabólico da revolução Piotr Stiepánovitch Vierkhoviénski, após a crueldade extrema do assassinato de um inocente em nome da causa revolucionária, encerra o romance de límpida consciência assim como começou, conversando com novos adeptos ao movimento com a mesma paixão imolada pela culpa e incapaz de arrependimento. Dostoiévski aqui faz mais uma vez seu panfletarismo sobre a queda, mostrando didaticamente a lição da cozinha onde a política realmente é confeccionada, sem eufemismos, sem encantos, sem demagogias; assim como amplia o diagnóstico dos mecanismos do poder de submissão político e religioso no discurso do Grande Inquisidor nos Irmãos Karamazov.
Já Tolstoi, na cena acima mencionada da caçada em Otrádnoie, impressiona por sua pureza narrativa, a sua absoluta ausência como autor das cenas, de forma que toda a carga subliminar aflora da ação, das expressões faciais, da tensão do encontro, da fúria da descrição dos cães atacando o lobo, da forma carregada de reprimido ódio como o servo exímio caçador se dirige com asco latente ao principe que fracassa no cerco à presa. Nessa cena há toda uma pulsão profética sutilmente aterrorizante da virada dos ciclos de dominação em que o dominado pega as rédeas da história e massacra seu senhor que se pressupunha eterno. Há de se descrever minimamente a cena para que se saiba o que estou querendo dizer: saem para a caçada na neve, nas propriedades do príncipe Rostóv, o velho príncipe, seu filho Nicolai, sua filha Natascha, e sua afilhada Sônia, na companhia dos servos caçadores cuja única obrigação que devem pelo generoso direito de sobrevivência lhes dado nas terras do fidalgo é exercerem suas ciências da caça. Os príncipes são seres que trazem a notória distinção de classe nas roupas elegantes, na postura senhorial, na educação primorosa nas melhores escolas européias, no direito de lutarem pela pátria em cargos de comando distantes do perigo dos campos de batalha; as moças são aristocratas belíssimas, rescendendo à doce curiosidade pela vida. Já os caçadores são homens broncos, quase maltrapilhos, misto de selvagens proficientes nas artes do combate contra a natureza, uma espécie de forças cósmicas controladas pela constituição limítrofe em corpos humanos regidos pela intuição perene do chicote e da deportação para a Sibéria, caso queiram burlar a sólida e tranquilamente inamovível paisagem social. Um dos caçadores, de nome Danilo, que demonstra um ódio profundo para com seus patrões e por tudo que lhe cheire a pompa palaciana, depois que o velho príncipe deixa que o lobo fure o cerco, contorna a falha do seu senhor atirando-se junto com os cães por sobre a presa reconduzida. Quando Danilo se aproxima do velho príncipe_ o conde Rostóv_, o conde, por um brevíssimo instante, pressente o perigo atemporal a que os da sua classe estariam sujeitos no desnodoamento cíclico da história dali a cem anos, na fúria de confronto abortada que vê em Danilo. Mais tarde, à noite, quando todos se sentam em volta de uma fogueira e o lobo, ainda vivo, é exposto para a apreciação amarrado a uma tala de madeira por sobre uma manta de couro, a amenidade do controle habitual se reconstitui tanto na atitude servil de Danilo, quanto do perdão bonachão do conde.
"O conde lembrou-se do lobo que ele deixara escapar e do seu atrito com Danilo.
_ Puxa, irmão, quando você se zanga, se zanga mesmo_ disse o conde. Danilo nada respondeu e apenas sorriu, um sorriso infantil, tímido e simpático."
Aqui o leitor prevê o massacre da família Romanóv e tudo que viria a ser a União Soviética e as nações prototípicas do socialismo do século XX. E Tolstói antevê, com sua pureza diabólica, o aprisionamento a que estamos fadados à perene repetição dos reconfiguramentos da História, que nenhum esclarecimento didático sobre sua relojoaria interna fará que pare o seu devir infinito. Na mesma época que Marx, Tolstói descobre por si mesmo que os eventos históricos acontecem primeiro como tragédia, e depois como farsa, numa sucessão inevitável e sob um moto perpétuo. Nisso está todo o seu abandono às suas obras, na velhice, e toda a sua abnegação a tudo que faça parte aos mesquinhos esquemas de dominação humanos, desde a política à religião. Nisso está sua excomunhão e sua negação ao dinheiro e às pobrezas simbólicas de amor à pátria, que desde sempre se lhe revelara ser sinônimo de amor à guerra. E nisso está a força incomensurável da dor da felicidade tolstoiana nas cenas sublimes dos Rostóv descansando-se da caça na aldeia camponesa de Otrádnoie. A dor de que a pairagem de esplêndida alegria infantil naquele contínum de tempo aparentemente desvinculado e refugiado da história está vinculada à consumação da infelicidade futura daquela família já na iminência da falência, em que Natascha sucumbiria à desonra social, Sônia às decepções da solidão da maturidade, o conde ao desaparecimento natural, e Nicolai à volta aos campos da guerra.
___________________________________________
O século que não foi de Tolstói
Eu passei muito tempo amando Dostoiévski, só lendo Dostoiévski, tendo Dostoiévski como a unanimidade mais vantajosa tanto no aprendizado da escrita como dos ângulos mais certos para observar o raivoso e mesquinho diabo humano, de forma que me esqueci quase por completo de que ao lado dele há um outro desbravador de igual ou superior envergadura. Durante o século XX, Léon Tólstoi passou por um curioso processo de esquecimento que, à diferença dos tantos outros autores esquecidos, foi motivado não pela obsolescência e envelhecimento de sua obra, mas por sua imensa superioridade. Tolstói, trocando em miudos, foi relegado a um segundo plano na esfera dos grandes escritores justo por ser o maior de todos. O maior esteta, o compositor do maior painel ficcional de todos os tempos, o narrador por excelência, o dono de uma perfeição excessiva em cada um dos bastiões da escrita que frequentou, de forma que nomes sinonímicos das letras chegam a ficar pequenos perto dele. Era muito mais refinado na concisão lapidar do que Flaubert, nunca tendo sentido o terror que o francês sentia de ser escravo de sua própria técnica; sua memorialística faz com que os romances de formação produzidos pelos autores nos anos futuros percam o ar distintivo de legitimidade; suas fábulas infantis e moralistas são tão cheias de torpezas, degradações, e modelos etéreos de ascensão que dá a direção da literatura fantástica que se produziria no restante do século XX; suas descrições de pessoas e paisagens são de uma beleza trágica e de uma reverberância para outras profundidades do discurso que é impossível ao leitor, mesmo a dez mil quilômetros de distância, não ter a certeza de que é íntimo das ruas de São Petersburgo e de Moscou, assim como não lhe sai da memória a lembrança detalhada da morte da princezinha e do rosto monumental do velho conde Bezukhov no leito de morte. Cada descrição de Tolstói tem as sombras de Rembrandt. Ser levado por ele através da enorme Rússia com seus mujiques e seus salões da aristocracia, é saber como os leitores do século XIX já sabiam o que era o cinemascope, ao mesmo tempo em que se entende porque Martin Amis disse que Tolstói foi o único escritor que conseguiu reproduzir por escrito a felicidade.
E mesmo assim, estabelece-se a incógnita do por que Tostói foi canonizado e preso a uma redoma de admiração empoeirada por cem anos, tornando-se um desses nomes citados como pontos de grandeza mas muito pouco lidos. No Brasil, por exemplo, até cinco anos atrás era algo de sobeja dificuldade achar alguma tradução de seus três romances principais, sobrando ao leitor persistente a procura por traduções antigas de Anna Karenina em sebos de livros usados, ou a espera de que o ciclo quinquenal de publicações de clássicos da literatura universal feito por revistas e jornais relançasse alguma tradução vertida do inglês. Ainda hoje, eu que procuro Guerra e Paz nas livrarias que visito, só encontro a informação no computador de buscas de que uma edição da obra em dois volumes pode ser importada de Portugal, ou então pode-se adquirir por um preço tirânico quatro volumes da LP&M que, apesar do respeito que tenho a essa editora, não me inspiram muita confiança.
É algo que penso ser motivo de um estudo mais abrangente por parte dos pensadores que se ocupam com os contrapontos ideológicos dos séculos, a razão de por que Dostoiévski foi eleito o representante do então moderno século XX, em detração de colocarem Tolstói como o homem estigmatizado por ter definido por inteiro o século XIX (a ponto de se enterrar na história junto com ele), e, uma nova questão que surge nesses cem anos da morte de Tolstói: a qual dos dois pertencerá agora o século XXI? Em um magnífico ensaio sobre esse assunto, escrito por Joseph Bródski e publicado pela Cia. das Letras no volume Menos que Um, Bródski diz que os autores modernos se identificaram com o conturbado e inconstante Dostoiévski. As vertentes mais importantes da intelectualidade do século XX tomaram Dostoiévski como pai do homem urbano, exilado, perseguido por poderes institucionais inéditos que os transformariam em números, privando-os do direito à individualidade. Dostoiévski entregou dilapidado aos grandes analistas da alma da humanidade, confrontada pela primeira vez com sua bestialidade desencantada, um novo posicionamento profilático capaz de um certo esclarecimento ao ver para dentro do seu interior de caos e fúria. Em uma simples passagem de Crime e Castigo, em que Raskolnikov anda pelas ruas de Moscou tomado por uma febre cerebral, formulando no curso de seus pensamentos inconstantes a tese pessoal da grandeza que há por detrás do assassinato, há mais do que a gênese de vários procedimentos modernos da narrativa, do stream of consciousness, do relativismo moral, da quebra da linearidade da escrita, do romance coisa desprovido de personagens e ocupado no centro por impulsões do ego, o romance freudiano de Beckett.., há também o sintoma da falta de segurança total proporcionado pelas duas grandes guerras mundiais que lançou o homem na depressão desespiritualizada da modernidade.
Bródski cita o imediatismo da escrita de Dostoiévski (já citado por Nabokov, que disse não haver uma página de Dostoiévski que possa fazer parte de uma compilação de textos representativos), sua falta de uma organização mais apurada da narrativa, seus aparentes excessos que descambam espontaneamente para o grotesco, seu desleixo pela limpidez e fluidez. Exceto na intensidade, Dostoiévski é o oposto de Tolstói, e um oposto que, num primeiro momento, parece diminuído diante aos atributos retilíneos de Tolstói. Tolstói era não só melhor escritor como melhor homem que Dostoiévksi. Tolstói foi coerente com tudo que acreditou, até mesmo quando escolheu por puro exercício de campo ser um aristocrata burgues devasso na juventude. Entendia com lucidez os ciclos ontológicos da evolução pessoal, e por isso renegou seus grandes livros, permitindo que eles circulassem livremente nos milhões de exemplares pelo mundo , sem que cobrasse um centavo dos milionários direitos autorais a que teria direito. Em seu cristianismo íntegro, em sua piedade guerreira pelos despossuídos que nada tinha de pedante, criticou duramente tanto a igreja católica por seu niilismo abjeto de culto castrador a um Cristo martirizado, quanto ao evangelismo reformador ganacioso e prostituído pela sede pelo dinheiro; partilhou sua fortuna com os empregados de sua grande propriedade rural, Yasnaya Polyana, distribuindo-lhes a posse da terra. Diante tais ações, foi excomungado pela igreja russa ortodoxa, e olhado com suspeita pelos camponeses, e, no fim da vida, quando parte em exílio voluntário para longe dos interesses surrupiadores de seus herdeiros, morre solitariamente na gare de Astapovo.
Dostoiévski, epiléptico, polemista inconstante que sentia prazer em rebaixar-se diante o inimigo ao pedir-lhe desculpas, propenso a admirar homens nefastos do alto poder czarista, e cujo cristianismo desesperado revelava toda uma arraigada falta de fé, era, pois, o anti-Tostói. Isso fez a diferença real a seu favor. Em seu eslavismo em cantar a superioridade do povo russo sobre os demais povos da Terra, foi, por contradição, o porta-voz do homem ocidental. Tolstói era centrado demais, seus tormentos espirituais dotados de uma dor cabível em um desenho lógico previa a redenção pelo isolamento e pela fidelidade individual; Tolstói era muito oriental e completo para ser interessante ao mundo ocidental e desfragmentado do século XX. Enquanto Dostoiévski era, geneticamente, o formulador de Mersault, Antoine Roquentin, Thomas Sutpen, Stephen Dedalus, no que tinha de pesadelo, de dissonância, de intriga, de incompletude.
Escrevi esse texto motivado pela leitura de Ressurreição, o último dos três grandes romances de Tolstói que a editora CosacNaify lançou, em 2010, no Brasil. A CosacNaify está fazendo o excepcional trabalho de resgatar Tolstói ao leitor brasileiro, empreitada que tem no tradutor direto do russo, Rubens Figueiredo, sua peça chave. Já lançou a primeira tradução direto do russo de Anna Kariênina, que teve sua primeira edição esgotada, assim como a obra de Tolstói preferida de Harold Bloom, Khadji-Murát, (essa pela tradução também do ótimo Boris Schnaiderman). Os livros tem um acabamento luxuoso, capa dura, fita de seda para marcar a página, fotos, de forma que são belas peças que também servem para colocar em relevância, no tocante de quem as possui, ao menos a decoração da casa.
Lendo Ressurreição aventuro dizer que talvez esse novo século seja, até por saturação à toda herança bem esgotada que o modernismo recebeu de Dostoiévski, o século de Tolstói. Uma surpresa foi a descoberta de que um de meus autores preferidos, Thomas Bernhard, parece ter bebido muito da maneira de escrever de Tolstói, em sua limpidez, sua falta de pomposidades, seu discurso direto e destemido, sua repulsa a se integrar ao modernismo e às escolas da moda, sua forma minimalista de, em alguns preciosos parágrafos, usar da repetição para firmar uma ideia (a diferença fundamental que valoriza essas traduções diretas é notar esse detalhe substancial do método de escrita de Tolstói, completamente apagado nas traduções do francês e do inglês). Talvez esse novo século não suporte mais os modelos de realidade paralela, as fábulas kafkianas, as parábulas distópicas de Orwell, e, aos esclarecidos que ainda restam e aos inconformados, a crítica dura e sem artificação de Tolstói seja a nova arma para confrontar os poderes instituídos. Pois Ressurreição é uma viagem sem eufemismos e sem retoques artísticos aos porões do sistema judiciário russos (e, por derivação, brasileiros), e mais ainda, uma denúncia saturada da corrupção humana, da ignorância e, sobretudo, da crueldade gritante mas oficialmente aceita dos que se omitem.
_________________________________________
O cristão niilista
Rosamund Bartlett diz lá para o final da magnífica biografia que escreveu sobre Liev Tolstói que Tolstói jamais acreditou na vida após a morte, pelo menos no modo como a maior parte dos cristãos acredita na vida após a morte. Isso é uma observação desconcertante para alguém que escreveu um tratado no mínimo original sobre a percepção da existência divina através do espelho reflexo do niilismo depressivo, como Uma confissão. Nesta obra, inédita no Brasil a não ser por um bombástico primeiro capítulo na compilação lançada pela Companhia das Letras em Os últimos dias, o russo mostra bem uma de suas características mais idiossincráticas de escritor: a nudez contrastante a que o grande esteta e um dos mais sofisticados narradores da história chegava quando falava de si mesmo. Neste capítulo, Tolstói se entrega a uma meditação solitária, que se poderia dizer "escrita apenas para si mesmo", num testemunho corajoso de todas as suas fraquezas, de forma que é uma peça de sinceridade que vai além dos auto-vasculhamentos escatológicos de Montaigne. Aqui o artista que colocava todos os outros do mundo no bolso por sua erudição e seu alcance de visão, usa um linguajar que os salões requintados de intelectuais de seu tempo não relutariam em taxar de atrasado e pobre. Por isso é uma confissão, a ante-sala em que se senta o velho Tolstói antes de que assuma, como num novo Eclesiastes, que tudo que escreveu e toda a arte é meramente uma vaidade vazia. Esse capítulo me atingiu em cheio. Eu conhecia parte pequena da extensa obra doutrinária do autor de Guerra e paz, como seus contos da Cartilha, que tem a estatura que tem justamente por serem de uma singeleza desarmante; conhecia sua magnum opus filosófica O reino de deus está em nós, que é muito, mas muito mais do que se convencionou dizer o estado soviético e o padrão cultural do século passado (ambas essas coisas destrinchadas sobejamente por Bartlett na parte final de seu livro), e nada me soou mais verdadeiro de ler e mais revelador sobre a crença de Tosltói que esse primeiro capítulo.
Foi com Uma confissão que Tolstói foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa. Esse capítulo me pareceu o que Camus sempre procurou escrever em A peste e nos diários de viagens em que documentava sobre a profunda depressão que sentia na fatuidade de suas conferências internacionais. Ler esse Tolstói me remeteu imediatamente a Camus. Quando li o diário da vinda de Camus para o Brasil em 1949, pensei: "esse homem vive em um desejo irrefreável de se matar, e não fazê-lo constitui o pior dos infernos para ele". Em uma parte notavelmente marcante, uma morena brasileira se esfrega nele durante um baile, e ele emprega todas as suas forças para não vomitar (há uma cena semelhante em Os mímicos, em que um personagem de Naipaul sente um asco homicida ao ver a pele de sua amante que lhe parece repugnantemente com um pudim). Pois Tolstói relata que pensou várias vezes em acabar com sua vida, tendo lido Schopenhauer na pré-adolescência e após, em seus 14 anos, ter ouvido, fascinado, um amigo expor para ele e para seu irmão Ivan uma explicação pormenorizada e brilhante de que Deus não existia. Depois disso, Tolstói luta para se manter vivo em um universo que não tem sentido e não oferece o menor lenitivo para que se continue a acordar dia a dia e participar da imensa mentira que faz deste mundo uma prisão de injustiças e assassinatos. Tudo parece para o homem de menos de 40 anos que acaba de escrever Guerra e paz um inferno ainda mais profundo e opressivo que qualquer inferno cristão, pois este se apoia em uma norma comunitária e milenar de fingir impregnar sentido através de sistemas mentais e ritos tradicionais. Tais arquétipos amortizantes do suicídio comunal são, ainda por cima, bastante fáceis de serem denunciados, pois todos eles são contraditórios e escondem uma gritante hierarquia de interesses em manter a maioria da população na ignorância para solidificar um esquema de classes dominantes. Em Guerra e paz já se pode ver essa conversão a um cristianismo pragmático que pretende estancar o absurdo por todos os lados; mas é depois de sua fase grandiloquente (que lhe permite produzir ainda um calhamaço como Anna Kariênina, vencendo sua declarada enorme afasia em labutar em cima de algo que lhe parecia sem propósito) como ficcionista que Tolstói se transforma em filósofo.
Ele lê de tudo. Aprende por conta própria umas cinco línguas diferentes (entre elas o hebraico, o grego e o alemão); em um final de semana aprende o esperanto, crente no intuito de seu inventor de que tal idioma converterá em uma comunidade global todos os povos. A lista de estudos que Rosamund Bartlett enumera do que forma o escopo da fase madura e tardia de Tolstói é um assombro: não só entra em contato com todas as ideias que estão a ser escritas pelo mundo, encomendando onerosas edições importadas, como sua crescente rede de fieis e seguidores lhe manda uma profusão de livros de todas as partes. Lê toda a filosofia germânica e grega; se apaixona ferrenhamente por Rousseau, que é um de seus mestres para toda a vida. Sedimenta suas ambições homéricas, lendo A Ilíada e Odisséia no original. Conhece cada seita sectária da Rússia, visitando seus mosteiros ou seus tolos de Deus indo por onde eles peregrinam. A universalização do conhecimento que traz para si é tão cerceada que nada escapa de seus olhos. Está preparado para, como no conto de Tchécov, A aposta, em que um dos apostadores fica décadas trancado em um quarto sem contato com o mundo, alimentando-se com toda a cultura humana, renegar toda a produção intelectual do homem como simples vaidade. E neste estado de espírito Tolstói atinge a sua primeira de uma série de severas crises transformadoras. Quer deixar tudo, lar, família, propriedade; quer renegar sua obra, abrindo mão dos milionários direitos autorais (era então, o autor mais vendido do mundo); quer arrepender-se ativamente de todos seus pecados como senhor de terras que possuía (e exercia essa posse) as vidas dos seus servos e o corpo de suas servas.
Daí que Uma confissão é o ápice de sua produção intelectual. Hiperbólico em tudo que fazia, cada um de seus livros filosóficos era uma via láctea de milhares de páginas condensadas em tomos editados e vendidos sempre à revelia das proibições taxativas do censor do tsar_ O reino de Deus está em nós, diz Bartlett, tem um manuscrito original de três mil e quinhentas páginas. Mas vamos a o que diz Uma confissão, que pode ser o cerne para entender a doutrina de fé sem recompensas místicas professada por Tolstói. O capítulo único que dispomos revela um Tolstói existencialista, no âmago de seu desespero. Ele diz que pensar na não-existência de Deus o levava às portas do suicídio, pois não poderia viver sem que houvesse um objetivo justo para compensar todas as mazelas da vida. Daí sentia, subitamente, uma reconfortante proximidade de Deus, sem previsão, sem que seu racionalismo incidisse de imediato_ nesse limbo em que a possibilidade se tornava evidente, a vida se renovava para ele, e tudo era plenitude e luz. Mas tais momentos não duravam muito, e sua mente racional cogitativa o lançava de volta às sombras da certeza de que nenhum maravilhamento divino era possível coexistir com um mundo animalesco, regido por leis econômicas selvagens e impulsos nervosos mediados por simples correntes enzimáticas. A solução nestas horas para tanto eco que lhe provocava o opressivo vazio era acabar com sua vida. E aqui vem a parte fundamental de sua escrita: através da razão, ele chegou à certeza incontestável da existência de Deus: se a vida só era possível quando ele era assolado pela lógica divina, era porque Deus é a própria existência. Deus simplesmente não é uma presença extemporânea, que coabita em estado suspensivo por sobre o universo; Deus apenas é. Ele é indissociável do universo. Vivemos Nele, e Ele está em nós. Através dessa leitura magnífica, dessa descoberta suprema, obtida não por meios místicos ou metafísicos, Tolstói calou em si definitivamente qualquer traço de incerteza. Seu esoterismo é tão pragmático, heroico e romântico (em última escala), quanto os crentes sem Deus de Camus, o médico e o repórter que se isolam na Oram condenada pela peste para darem sentido às suas vidas morrendo na tentativa de salvar ou emancipar um pouco do terror das pessoas sentenciadas pela doença. Tolstói chegara a essa descoberta depois de sanitizar os evangelhos, traduzindo-os do grego seccionando os milagres e a magia interpolada, segundo ele, pelas instituições que prostituíram e manipularam sua mensagem ao longo da história, e dando a seus leitores um Jesus humano, um profeta brilhante que contudo padecia, para nossa felicidade, das nossas mesmas fragilidades e insuficiências.
Mas Tolstói se insinua mais do que isso. Como é sabido, ele fazia questão de, em seus grandes romances, perverter as normas da escrita que uma Europa refinada instituía como modelo de excelência. Nas novas traduções do russo, lançadas pelo país nas últimas décadas, vemos que ele assumia uma redundância programada para manter sua independência (influenciando enormemente a escrita de Thomas Bernhard), e não tendo pudores em emendar pregações e reflexões pessoais no meio da narrativa. Impossível, para mim, que o cristianismo de Tolstói tivesse mesmo esse positivismo pragmático ancorado em uma didática pacifista que só ia até onde estivesse um controle social igualitário. Um niilista como fora Tolstói, só poderia suplantar a hipótese do suicídio se conseguisse calar sua limitação em ver além o ponto infinito para onde sua crença se convergia. Sua concepção de Deus é a mesma de Don Dellilo e Saul Bellow, que diziam que Deus era inacessível e sempre será inacessível à nossa terrenidade inexorável, à nossa falta compulsória de credenciais para o absurdo_ à nossa sensaboria extrema. O estado soviético condenou por cem anos as obras filosóficas de Tolstói ao silêncio, pelo alto teor de contestação que elas contêm, e esse olvido alimentado pela difamação de que tais escritos eram de um evangelismo rançoso de velho foi assumido por um Ocidente que se deslumbrava com todos os níveis de escolas do pensamento surgidos em reflexo à decadência moral do homem no século XX. Mas a volta, se é que há, destes textos de Tolstói para o mundo pode estar vindo atrasado demais. Em uma hora em que as sutilezas do pensamento e a fé em uma comunidade humana progressista moralmente desenvolvida é algo inconcebível na grosseria do hedonismo atual. (Rosamund Bartlett escreve, no capítulo final, um panorama valiosamente revelador sobre o que o stalinismo fez com a família e o pensamento de Tolstói; quando viram que a popularidade de Tolstói era algo grande demais para ser excisado sem consequências, eles fizeram que Tosltói se juntasse a eles: além de ser um pai espiritual para o bolchevismo, foi transformado no artista perfeito enormemente equivocado em seu sistema doutrinário, mas modelo de correção e herói nacional.) Há muito no silêncio de Tolstói.
________________________________________________
Tolstói X Shakespeare
Sempre bom descobrir o quanto escritores canônicos podem ser extremamente engraçados. Quem teme ou repudia a literatura não consegue conceber, por exemplo, que autores como Kafka são grandes humoristas, que por detrás da imagem fácil de que o homem de letras vive enredado em sérios debates sobre a alma existe um observador descompromissado tão loquaz e divertido quanto alguém que se oferece para uma fofoca na fila do pão da padaria. Tenho essa realidade como uma das mutilações a que sofre, inconscientemente, aquele que julga como entretenimento genuíno a novela global, o videogame, ou algum dos escapes da internet, e considera sem sombra de dúvidas que a leitura é um tédio infinito.
Pois bem, não quero falar de Kafka, mas de um ensaio intitulado Sobre Shakespeare e o teatro (Um ensaio crítico), do qual ainda sinto o peito desobstruído a os olhos marejados das lágrimas das gargalhadas que estava tendo ha pouco, quando o lia. Seu autor é, ninguém menos, que Liev Tolstói (ééé, os visitantes esporádicos do blog terão que ter paciência comigo), alguém do qual não me é surpreendente a sua veia cômica, já que sei de páginas em seus dois principais romances que não ficam devendo em nada a Thomas Pynchon ou Mark Twain (para citar apenas dois dos mais engraçados escritores). Esse ensaio consta da sensacional compilação de textos tardios de Tolstói, Os últimos dias, publicado pela Penguin Companhia (uma coleção cujo trabalho de editoração é sempre belo e um regalo para quem ama livros). Tal ensaio trata-se de 80 páginas em que o célebre russo analisa as principais peças de Shakespeare com uma parcimônia e dedicação total, narrando enredos, citando sentenças, descrevendo detalhes cênicos, apontando idiossincrasias dos personagens e do autor inglês no ato de composição das obras.
Como introdução, Tolstói declara que quando jovem, ouvia e lia muitas personalidades importantes falando do gênio absoluto, do inigualável conhecimento humano, e da poesia inalcançável de Shakespeare, mas que, ao começar a ler sua peças, não conseguiu de forma alguma perceber esses elogios e, indo mais longe, só via em tais trabalhos uma falta de talento, uma pobreza estética e um misto de arranjos sem lógica para costurar tramas de pontas soltas, que lhe provocava um peso de consciência e uma sensação de que lhe faltava os méritos devidos de leitor por ser cego a evidências tão nítidas à maioria quase unânime dos que glorificam o bardo inglês. Por essa impressão lhe causar bastante incômodo, Tolstói pôs-se a estudar a fundo a obra de Shakespeare. Leu-a em inglês, em alemão, em russo e em francês; leu todos os estudiosos de Shakespeare e todas as referências feitas a ele. Faz um pormenorizado arrebanhamento de citações da grandiosidade de Shakespeare na introdução para concluir que (aí entra a sua precisa noção do time-in do humor), agora, aos 75 anos, não consegue mais esconder as suas sólidas ideias sobre o que dá a entender ser o grande engodo da cultura ocidental em fundamentar a sua literatura num autor cheio de falhas gritantes.
Aí sim inicia-se uma deliciosa _ e gargalhante_ sequência de exames cuidadosos sobre as peças de Shakespeare. Tolstói não é o único a refutar a excelência de Shakespeare: Bernard Shaw o fez, mas de maneira paradoxalmente séria e ortodoxa para um comediante, utilizando o que para ele era a mais fraca das composições do autor, Hamlet_ Shaw utilizou, durante toda sua vida, a nomenclatura mutilada de "Shakespear", para demonstrar a noção de franca incompletude do criticado. Mas são nessas páginas do russo que o leitor se brinda do encontro de dois dos maiores escritores de todos os tempos, no exercício inédito de descanonização da parte de um deles, que, após uma vida de pesquisas e interação comprometida, se lança ao que, para qualquer outro, seria um desplante abominável.
Pode-se discordar das invectivas de Tolstói, mas acompanhar a sua implosão de Rei Lear, por exemplo, é um convite a reler a peça com esse novo olhar. Tolstói assinala inconsistência a cada página, aponta erros, imposturas, despropósitos, puras besteiras para agradar a platéia, e assim vai. Já na primeira cena da peça, se pergunta como um rei que amava de forma especial à filha mais nova, Cordélia, e que tinha plena certeza do amor e dedicação desta, a renega peremptoriamente só porque não soube bajulá-lo da mesma forma que suas outras duas filhas, Goneril e Regana (tidas notoriamente por todo o reino como víboras), o que disso faz surgir toda a desgraça e destruição de si e de tudo que o cerca. Toltói salienta como Shakespeare abortava qualquer força e convencimento das cenas por intercalar monólogos longuíssimos e sem sentido do velho Lear a todo momento. Descreve como todas as ações dos personagens não faz qualquer sentido e vão imediatamente de contra a qualquer lógica da convivência. O texto é recheado de análises como as que seguem abaixo:
"Nesse momento, por algum motivo, chega Lear, coberto de flores silvestres. Ele enlouqueceu e suas falas são ainda mais absurdas do que antes: discorre sobre cunhagem de dinheiro, sobre arco, entrega a alguém uma luva de ferro, depois grita que está vendo um rato, que quer atraí-lo com um pedaço de queijo, e em seguida, de repente, pergunta a senha para Edgar, e Edgar na mesma hora responde com as palavras 'manjerona doce'. Lear diz: Passe!_ o cego Gloucester, que não reconheceu nem o filho nem Kent, reconhece a voz do rei."
"Em seguida, Lear pronuncia um monólogo sobre injustiça nos tribunais que é de todo incoerente na boca de alguém enlouquecido. Depois disso, chega um cavalheiro com soldados, enviado por Cordélia para buscar Lear. O rei continua agindo como louco e sai correndo. O cavalheiro enviado à procura de Lear não corre atrás dele, mas por um longo tempo fala a Edgar sobre a disposição dos exércitos franceses e britânicos."
"Em seguida, entra Lear com Cordélia morta nos braços, apesar de ter mais de oitenta anos e estar doente. De novo começa um terrível delírio de Lear, que provoca vergonha com suas brincadeiras sem graça. Lear exige que todos uivem e ora pensa que Cordélia morreu, ora que está viva. 'Com vossa língua e olhos eu faria/ Ruir os céus.' Ele conta que matou o escravo que enforcou Cordélia, em seguida diz que os olhos dele enxergam mal e nesse instante reconhece Kent, que lhe passara despercebido o tempo todo."
As análises seguintes no ensaio são da mesma forma desconstrutivistas e altamente cômicas, o que faz dessa pequena obra de Tolstói uma das mais engraçadas da literatura.
Assinar:
Postagens (Atom)